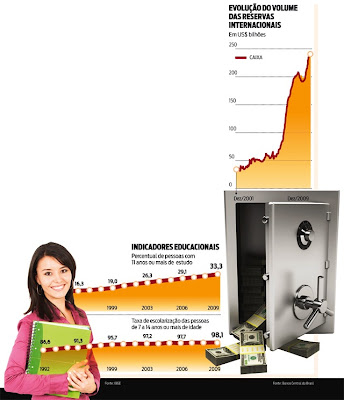16/01/2014 - “A obesidade e a fome são os dois lados de um sistema alimentar que não funciona”
- Entrevista com Esther Vivas - Instituto Humanitas Unisinos (IHU)
 Por ocasião da sua visita a Tenerife para a comemoração do Dia Internacional das Mulheres Rurais (15 de outubro), tivemos a oportunidade de conversar com Esther Vivas, [foto] ativista social e pesquisadora de políticas agrárias e alimentares.
Por ocasião da sua visita a Tenerife para a comemoração do Dia Internacional das Mulheres Rurais (15 de outubro), tivemos a oportunidade de conversar com Esther Vivas, [foto] ativista social e pesquisadora de políticas agrárias e alimentares.A entrevista está publicada na revista Mundo Rural n. 13, do AgroCabildo, Cabildo de Tenerife, 14-01-2014. A tradução é de André Langer.
Eis a entrevista.
Qual é o estado do atual modelo de produção, distribuição e consumo de alimentos?
 Atualmente, enquanto milhões de pessoas no mundo não têm o que comer, outros comem muito e mal.
Atualmente, enquanto milhões de pessoas no mundo não têm o que comer, outros comem muito e mal.A obesidade e a fome são os dois lados da mesma moeda: a de um sistema alimentar que não funciona e que condena milhões de pessoas à má nutrição.
Vivemos, definitivamente, em um mundo de obesos e famélicos.
.jpg) Os números deixam isso claro: 870 milhões de pessoas no mundo passam fome, enquanto 500 milhões têm problemas de obesidade, segundo indica o relatório O Estado Mundial da Agricultura e da Alimentação 2013, publicado recentemente pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), e que este ano analisa a mácula da má nutrição.
Os números deixam isso claro: 870 milhões de pessoas no mundo passam fome, enquanto 500 milhões têm problemas de obesidade, segundo indica o relatório O Estado Mundial da Agricultura e da Alimentação 2013, publicado recentemente pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), e que este ano analisa a mácula da má nutrição.Uma problemática que não afeta apenas os países do Sul, mas que aqui está cada vez mais próxima.
A fome severa e a obesidade são apenas a ponta do iceberg.
Como acrescenta a FAO, dois milhões de pessoas no mundo sofrem deficiências de micronutrientes (ferro, vitamina A, iodo...), 26% das crianças têm, em consequência, atraso no crescimento e 1,4 bilhão vivem com sobrepeso.
 O problema da alimentação não consiste apenas em se podemos comer ou não, mas no que ingerimos, de que qualidade, procedência, como foi elaborada.
O problema da alimentação não consiste apenas em se podemos comer ou não, mas no que ingerimos, de que qualidade, procedência, como foi elaborada.Não se trata apenas de comer, mas de comer bem.
E quem sai ganhando com este modelo?
A indústria agroalimentar e a grande distribuição, os supermercados, são os principais beneficiários.
 Alimentos quilométricos (que vêm da outra ponta do mundo), cultivados com altas doses de pesticidas e fitossanitários, em condições precárias de trabalho, prescindindo do campesinato, com pouco valor nutritivo... são alguns dos elementos que o caracterizam.
Alimentos quilométricos (que vêm da outra ponta do mundo), cultivados com altas doses de pesticidas e fitossanitários, em condições precárias de trabalho, prescindindo do campesinato, com pouco valor nutritivo... são alguns dos elementos que o caracterizam.Em suma, um sistema que antepõe os interesses particulares do agrobusiness [agronegócio] às necessidades alimentares das pessoas.
 Como afirma Raj Patel [foto] em seu livro Obesos e Famélicos (Los Libros de Lince, 2008):
Como afirma Raj Patel [foto] em seu livro Obesos e Famélicos (Los Libros de Lince, 2008):“A fome e o sobrepeso globais são sintomas de um mesmo problema (...)
Os obesos e os famélicos estão vinculados entre si pelas cadeias de produção que levam os alimentos do campo à nossa mesa”.
E acrescento: para comer bem, para que todos possam comer bem, é preciso romper com o monopólio destas multinacionais na produção, distribuição e consumo de alimentos. Para que acima do afã do lucro, prevaleça o direito à alimentação das pessoas.
E quem sai perdendo?
Estamos correndo o risco do desmantelamento de um setor, o agrário, estratégico para a nossa economia.
Algo que não é novo, mas que com as atuais medidas só se agravou.
 Atualmente, menos de 5% da população ativa no Estado espanhol trabalha na agricultura, e uma parte muito significativa são pessoas maiores de idade.
Atualmente, menos de 5% da população ativa no Estado espanhol trabalha na agricultura, e uma parte muito significativa são pessoas maiores de idade.Algo que, segundo os padrões atuais, é símbolo de progresso e modernidade.
Talvez, teríamos que começar a nos perguntar com que parâmetros se definem ambos os conceitos.
A agricultura camponesa é uma prática em extinção.
Atualmente, milhares de propriedades fecham suas portas. Sobreviver no campo e trabalhar a terra não é tarefa fácil.
E quem mais sai perdendo no atual modelo de produção, distribuição e consumo de alimentos são, precisamente, aqueles que produzem os alimentos.
 A renda agrária situava-se, em 2007, segundo a COAG, em 65% da renda geral. Seu empobrecimento é claro. Avançamos para uma agricultura sem camponeses.
A renda agrária situava-se, em 2007, segundo a COAG, em 65% da renda geral. Seu empobrecimento é claro. Avançamos para uma agricultura sem camponeses.E, se estes desaparecem, nas mãos de quem fica a nossa alimentação?
Que relação existe com a atual situação de crise?
A crise econômica só piorou esta situação.
 Cada vez mais pessoas são empurradas a comprar produtos baratos e menos nutritivos, segundo se desprende do relatório Geração XXL (2012), da companhia de pesquisa IPSOS.
Cada vez mais pessoas são empurradas a comprar produtos baratos e menos nutritivos, segundo se desprende do relatório Geração XXL (2012), da companhia de pesquisa IPSOS.Como estes indicam, na Grã-Bretanha, para dar um exemplo, a crise fez com que as vendas de carne de cordeiro, verduras e frutas frescas diminuíssem consideravelmente, ao passo que o consumo de produtos enlatados, como biscoitos e pizzas, aumentasse nos últimos cinco anos.
Uma tendência generalizável a outros países da União Europeia.
Milhões de pessoas sofrem hoje as consequências deste modelo de alimentação “fast food”, que acaba com a nossa saúde.
.jpg) As doenças vinculadas ao que comemos só aumentaram nos últimos tempos: diabetes, alergias, colesterol, hiperatividade infantil, etc.
As doenças vinculadas ao que comemos só aumentaram nos últimos tempos: diabetes, alergias, colesterol, hiperatividade infantil, etc.E isto tem consequências econômicas diretas.
Segundo a FAO, a estimativa do custo econômico do sobrepeso e da obesidade foi, em 2010, de aproximadamente 1,4 bilhão de dólares.
Existe alguma alternativa?
Quais são os elementos e a condições necessárias para elas?
 Como indica a organização internacional GRAIN, a produção de alimentos multiplicou-se por três desde os anos 1960, ao passo que a população mundial tão somente duplicou desde então, mas os mecanismos de produção, distribuição e consumo, a serviço dos interesses privados, impedem aos mais pobres a obtenção necessária de alimentos.
Como indica a organização internacional GRAIN, a produção de alimentos multiplicou-se por três desde os anos 1960, ao passo que a população mundial tão somente duplicou desde então, mas os mecanismos de produção, distribuição e consumo, a serviço dos interesses privados, impedem aos mais pobres a obtenção necessária de alimentos.O acesso, por parte do pequeno agricultor, à terra, à água, às sementes... não é um direito garantido. Os consumidores não sabem de onde vem aquilo que comem, não podem escolher consumir produtos livres de transgênicos.
A cadeia agroalimentar foi se alargando progressivamente afastando, cada vez mais, produção e consumo, favorecendo a apropriação das diferentes etapas da cadeia por empresas agroindustriais, com a consequente perda de autonomia de camponeses e consumidores.
 Diante deste modelo dominante do agrobusiness, onde a busca do lucro econômico se antepõe às necessidades alimentares das pessoas e ao respeito ao meio ambiente, surge o paradigma alternativo da soberania alimentar.
Diante deste modelo dominante do agrobusiness, onde a busca do lucro econômico se antepõe às necessidades alimentares das pessoas e ao respeito ao meio ambiente, surge o paradigma alternativo da soberania alimentar.Uma proposta que reivindica o direito de cada povo a definir suas políticas agrícolas e alimentares, a controlar seu mercado doméstico, a impedir a entrada de produtos excedentes através de mecanismos de dumping, a promover uma agricultura local, diversa, camponesa e sustentável, que respeite o território, entendendo o comércio internacional como um complemento à produção local.
 A soberania alimentar implica em devolver o controle dos bens naturais, como a terra, a água e as sementes, às comunidades e lutar contra a privatização da vida.
A soberania alimentar implica em devolver o controle dos bens naturais, como a terra, a água e as sementes, às comunidades e lutar contra a privatização da vida.Não são propostas utópicas? Que estratégias são requeridas?
Um dos argumentos que os detratores da soberania alimentar utilizam é que a agricultura ecológica é incapaz de alimentar o mundo.
Mas contrariamente a este discurso, vários estudos demonstram que esta afirmação é falsa.
Esta é a conclusão de uma exaustiva consulta internacional impulsionada pelo Banco Mundial [BM] em parceria com a FAO, o PNUD, a Unesco, representantes de governos, instituições privadas, científicas, sociais, etc., projetado como um modelo de consultoria híbrida, que envolveu mais de 400 cientistas e especialistas em alimentação e desenvolvimento rural durante quatro anos.
.jpg) É interessante observar como, apesar de que o relatório tivesse estas instituições na retaguarda, concluía que a produção agroecológica provia de ingressos alimentares e monetários os mais pobres, ao mesmo tempo que gerava excedentes para o mercado, sendo melhor garantia de segurança alimentar que a produção transgênica.
É interessante observar como, apesar de que o relatório tivesse estas instituições na retaguarda, concluía que a produção agroecológica provia de ingressos alimentares e monetários os mais pobres, ao mesmo tempo que gerava excedentes para o mercado, sendo melhor garantia de segurança alimentar que a produção transgênica.O relatório da IAASTD, publicado no começo de 2009, apostava na produção local, camponesa e familiar e na redistribuição das terras nas mãos das comunidades rurais.
O relatório foi rechaçado pelo agrobusiness e arquivado pelo Banco Mundial, embora 61 governos o aprovassem discretamente, com exceção dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, entre outros.
 Alcançar este objetivo requer uma estratégia de ruptura com as políticas agrícolas neoliberais impostas pela Organização Mundial do Comércio [OMC], pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional [FMI], que erodiram a soberania alimentar dos povos a partir de seus ditados de livre comércio, planos de ajuste estrutural, endividamento externo, etc.
Alcançar este objetivo requer uma estratégia de ruptura com as políticas agrícolas neoliberais impostas pela Organização Mundial do Comércio [OMC], pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional [FMI], que erodiram a soberania alimentar dos povos a partir de seus ditados de livre comércio, planos de ajuste estrutural, endividamento externo, etc.Frente a estas políticas, é preciso gerar mecanismos de intervenção e de regulação que permitam estabilizar os preços, controlar as importações, estabelecer cotas, proibir o dumping e, em momentos de sobreprodução, criar reservas específicas para quando estes alimentos escassearem.
Em nível nacional, os países têm que ser soberanos na hora de decidir seu grau de autossuficiência produtiva e priorizar a produção de alimentos para o consumo doméstico, sem intervenções externas.
 Mas, reivindicar a soberania alimentar não implica em um retorno romântico ao passado; antes, trata-se de recuperar o conhecimento e as práticas tradicionais e combiná-las com as novas tecnologias e os novos saberes.
Mas, reivindicar a soberania alimentar não implica em um retorno romântico ao passado; antes, trata-se de recuperar o conhecimento e as práticas tradicionais e combiná-las com as novas tecnologias e os novos saberes.Não deve consistir tampouco em um projeto localista, nem numa “mistificação do pequeno”, mas em repensar o sistema alimentar mundial para favorecer formas democráticas de produção e distribuição de alimentos.
A que responde o auge dos grupos de consumo? Como foi a evolução mais recente destes grupos na Espanha?
Os grupos e as cooperativas de consumo propõem um modelo de agricultura cujos objetivos se centram
- em encurtar a distância entre produção e consumo, em relações de confiança e solidariedade entre ambos os extremos da cadeia, entre o campo e a cidade;
- em apoiar uma agricultura camponesa e de proximidade que cuida da nossa terra e que defende um mundo rural vivo com o propósito de poder viver dignamente do campo;
- e em promover uma agricultura ecológica e de temporada, que respeite e tenha em conta os ciclos da terra.
 Assim mesmo, nas cidades, estas experiências permitem fortalecer o tecido local, gerar conhecimento mútuo e promover iniciativas baseadas na autogestão e na autoorganização.
Assim mesmo, nas cidades, estas experiências permitem fortalecer o tecido local, gerar conhecimento mútuo e promover iniciativas baseadas na autogestão e na autoorganização.De fato, a maior parte dos grupos de consumo encontra-se nos núcleos urbanos, onde a distância e a dificuldade para contatar diretamente com os produtores são maiores, e, deste modo, pessoas de um bairro ou localidade se juntam para realizar “outro consumo”.
 Existem, assim mesmo, vários modelos: aqueles em que o produtor serve semanalmente uma cesta, fechada, com frutas e verduras ou aqueles em que o consumidor pode escolher quais alimentos de estação quer consumir de uma lista de produtos oferecidos pelo camponês com quem trabalha.
Existem, assim mesmo, vários modelos: aqueles em que o produtor serve semanalmente uma cesta, fechada, com frutas e verduras ou aqueles em que o consumidor pode escolher quais alimentos de estação quer consumir de uma lista de produtos oferecidos pelo camponês com quem trabalha.Também, em nível legal, encontramos majoritariamente grupos inscritos, como associações, e, alguns poucos, de experiências mais consolidadas e com longa trajetória, com formato de sociedade cooperativa.
Os primeiros grupos surgiram, no Estado espanhol, no final dos anos 1980 e começo dos anos 1990, majoritariamente na Andaluzia e na Catalunha, embora também encontremos alguns em Euskal Herria e no País Valencià, entre outros.
 Uma segunda onda se deu nos anos 2000, quando estas experimentaram um crescimento muito importante ali onde já existiam e apareceram pela primeira vez onde não tinham presença.
Uma segunda onda se deu nos anos 2000, quando estas experimentaram um crescimento muito importante ali onde já existiam e apareceram pela primeira vez onde não tinham presença.Atualmente, estas iniciativas se consolidaram e multiplicaram de maneira muito significativa, em um processo difícil de quantificar devido ao seu caráter particular.
O auge destas experiências responde, do meu ponto de vista, a duas questões centrais.
Por um lado, a uma crescente preocupação social sobre o que se come, diante da proliferação de escândalos alimentares, nos últimos anos, como a doença da vaca louca, os frangos com dioxinas, a gripe suína, a e-coli, etc.
 Comer, e comer bem, importa de novo. E, por outro lado, a necessidade de muitos ativistas sociais de buscar alternativas no cotidiano, para além de se mobilizarem contra a globalização neoliberal e seus artífices.
Comer, e comer bem, importa de novo. E, por outro lado, a necessidade de muitos ativistas sociais de buscar alternativas no cotidiano, para além de se mobilizarem contra a globalização neoliberal e seus artífices.Justamente depois da emergência do movimento antiglobalização e antiguerra, no começo dos anos 2000, uma parte significativa das pessoas que participaram ativamente destes espaços impulsionaram ou entraram para fazer parte de grupos de consumo agroecológico, redes de intercâmbio, meios de comunicação alternativos, etc.
Que papel tem as mulheres neste processo?
Avançar na construção de alternativas ao atual modelo agrícola e alimentar implica em incorporar uma perspectiva de gênero.
Trata-se de reconhecer o papel que as mulheres têm no cultivo e comercialização daquilo que comemos.
 Entre 60% e 80% da produção de alimentos nos países do Sul, segundo dados da FAO, recai sobre as mulheres.
Entre 60% e 80% da produção de alimentos nos países do Sul, segundo dados da FAO, recai sobre as mulheres.Estas são as principais produtoras de cultivos básicos como o arroz, o trigo e o milho, que alimentam as populações mais empobrecidas do Sul global.
Mas, apesar de seu papel chave na agricultura e na alimentação, elas são, junto com as crianças, as mais afetadas pela fome.
 As mulheres, em muitos países da África, Ásia e América Latina enfrentam enormes dificuldades para ter acesso a terra, obter créditos, etc.
As mulheres, em muitos países da África, Ásia e América Latina enfrentam enormes dificuldades para ter acesso a terra, obter créditos, etc.Mas estes problemas não se dão apenas no Sul.
Na Europa, muitas camponesas sofrem de uma total insegurança jurídica, já que a maioria delas trabalha em explorações familiares onde os direitos administrativos são propriedade exclusiva do titular da exploração e as mulheres, apesar de trabalhar nela, não têm direito a auxílios, à plantação, a uma cota láctica, etc.
Fonte:
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/527306-a-obesidade-e-a-fome-sao-os-dois-lados-de-um-sistema-alimentar-que-nao-funciona-entrevista-com-esther-vivas
Leituras afins:
- XV Simpósio Internacional IHU - “Alimento e Nutrição no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio” - de 05 a 08 de maio de 2014
- Nuvens de veneno - Wellinton Nascimento
- Fome: 10 fatos para saber em 2014 - Ana Duarte Carmo
Nota:
A inserção de algumas imagens adicionais, capturadas do Google Images, são de nossa responsabilidade, elas inexistem no texto original.









.jpg)