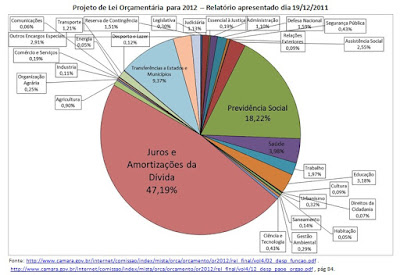Construir a cidadania a partir do exercício do direito de todos a expressão, comunicação e informação
Mostrando postagens com marcador juros. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador juros. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 14 de outubro de 2013
AS RESERVAS E O BNDES
Por Mauro Santayana*
(JB) - Depois de terem sido apanhadas de calças na mão pelas crises internacionais, as agências de qualificação voltam de novo sua nefasta atenção para o Brasil, desta vez para defender o enfraquecimento e o desmonte do sistema de financiamento público.
E o nosso país, que deveria tratá-las como aos cães que ladram, enquanto a caravana passa, parece que vai ceder à chantagem, e tolher a concorrência entre bancos públicos e privados, diminuindo a o papel dos primeiros na expansão do crédito pessoal e de capital de giro – providência que nos salvou, desde o início da crise, em 2008, até agora.
Como na fábula do lobo e do cordeiro – para a imprensa financeira e os arautos do capitalismo internacional - o país tem que estar indo sempre mal em alguma coisa.
Se não estamos negativos no crescimento, que será de 2.5% em 2013, mais de duas vezes maior que o do México - o aluno espionado, adulador e obediente do Consenso de Washington - talvez o problema seja com a inflação.
Mas como a inflação desceu para menos de 6% nos últimos 12 meses, e o tomate não chegou a vinte dólares o quilo, como esperavam os “analistas”, o vilão da vez é a dívida bruta, que, no conceito do FMI, está em 68%, e que o governo diz estar em 58% - se descontarmos os títulos que estão em posse do tesouro.
O FMI e as agências falam da dívida bruta, mas se esquecem da dívida líquida, que é de apenas 34%, subtraídos os 375 bilhões de dólares que o país tem em reservas, a maior parte deles em títulos dos EUA, o que nos torna o terceiro maior credor individual dos norte-americanos.
Para evitar que o Brasil fugisse da restrição ao crédito imposta pelos bancos privados no auge da crise de 2008, o governo expandiu em 7% a dívida bruta, e essa é a principal razão, para que ela tenha se transformado agora, na bola da vez, para as agências internacionais.
Essa é a principal causa de as agências internacionais terem rebaixado a perspectiva – vejam bem, por enquanto, apenas a perspectiva - da qualidade da dívida soberana do Brasil, de positiva para “estável” nas últimas semanas.
Bem, o Brasil continua com grau de investimento – e não está na situação dos EUA, com a maior dívida do mundo, a ponto de paralisar, por falta de dinheiro, todo o setor público, daqui a uma semana, se não conseguir licença para assinar novos “papagaios” e aumentar o orçamento federal.
No entanto, neste como em outros embates, principalmente na economia, o governo – pressionado pelo Congresso, pela mídia conservadora, a Europa e os EUA, que desejam impedir o surgimento de um novo concorrente no plano geopolítico – prepara-se, mais uma vez, para reagir mal, aos trancos e barrancos, adotando um comportamento errático e hesitante, ditado muito mais pela pauta dos adversários, do que por um projeto próprio e coerente de país.
É isso que ocorre, por exemplo, na área de telecomunicações, sob quase total domínio do capital estrangeiro desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Uma situação que nos leva a pagar, segundo a última pesquisa da União Geral de Telecomunicações, divulgada nesta semana, as mais altas tarifas de telefonia celular do mundo. Preços várias vezes superiores aos que cobram as operadoras estrangeiras, de seus concidadãos, em seus países de origem, pelos mesmos serviços. Sem quase nenhuma atitude do governo, a não ser a de providenciar financiamento farto e barato, e isenção de obrigações e impostos, para multinacionais que enviam bilhões de dólares para o exterior todos os anos - a não ser o recuo em uma frustrada tentativa de retorno da Telebras, como operadora plena, ao mercado, para a prestação de serviços diretos ao consumidor.
Com regras claras, voltadas para a montagem de consórcios com participação privada nacional, estatal e estrangeira, em bases iguais, também na infra-estrutura, o dinheiro injetado em nosso principal banco de fomento poderia ter gerado resultados muito melhores na economia desde a crise de 2008.
No lugar disso, o que vimos, nos últimos anos, foi o BNDES financiando, às vezes, 60%, até 80% do montante de projetos para empresas que, em vez de reinvesti-los aqui mesmo, enviam a maior parte de seus lucros para o exterior.
Isso ocorreu no setor de telecomunicações, mas também na indústria automobilística. Não se negociou qualquer participação direta do governo nas novas fábricas de automóveis construídas com quase 100% de dinheiro do BNDES e generosa isenção fiscal, para que ao menos parte dos ganhos auferidos com o boom de vendas, gerado pela diminuição do IPI, ficasse no país.
Não se negociou mudanças nas novas fábricas e em novos modelos, que contemplassem exigências de eficiência energética, diminuindo a necessidade de importação de combustível estrangeiro que aumentou com a expansão da frota. Aplicou-se dinheiro que poderia ter sido investido no subsídio à produção local de etanol, em projetos megalomaníacos, como os do Senhor Eike Batista, por exemplo.
O governo precisa perder o medo pânico de investir diretamente em atividades estruturais e produtivas que são estratégicas para o país. Quando não for possível estabelecer um equilíbrio entre capital privado nacional, capital estatal, capital estrangeiro, por eventual falta de interesse privado, que se busque associação direta com estatais de outros países, como a China, na base de 51% para o Brasil e 49% para o parceiro internacional.
O governo não deveria ter se endividado para colocar dinheiro na economia sem a contrapartida de aporte de recursos por parte de quem domina e se beneficia do negócio, principalmente, quando se trata de estrangeiros. Nessa parceria, que lembra a famosa joint-venture dos porcos com as galinhas, as multinacionais entram costumeiramente com os ovos, e o estado brasileiro, via BNDES, com o bacon.
Quem busca financiamento público precisa colocar em cima da mesa pelo menos um real, ou um dólar – vindo de seu próprio bolso ou de fonte de financiamento interna ou externa - para cada real, ou dólar, colocado pelo governo, senão nunca poderemos sair do baixíssimo patamar de investimento no qual nos encontramos.
Pois bem, agora, pressionado pela ameaça de rebaixamento da nota do país pelas agências internacionais, o governo pretende, para se livrar do problema, jogar a criança fora junto com a água da bacia.
No lugar de aprofundar e corrigir o papel do financiamento estatal, estabelecendo rumos, previsíveis, racionais, para os próximos anos, que levem à otimização da aplicação de recursos na economia, o governo cogita diminuir a participação dos bancos públicos no sistema financeiro e restringir o crédito para o consumo e o capital de giro, e os bancos privados declararam que não têm interesse em cobrir essa demanda.
E, mais, para assegurar os compromissos de financiamento do BNDES até o fim do ano, da ordem de 30 bilhões de reais, o governo fala em vender açodadamente sua participação em empresas – algumas delas estratégicas – em um momento em que essas ações - que foram responsáveis por metade do lucro do banco nos últimos anos – estão, por causa da desvalorização da bolsa, com seus preços muito abaixo de seu valor real.
Alternativas a esse recuo existem, assim como recursos para continuar com o financiamento público, sem vender os ativos da BNDESpar. Até ontem o Brasil dispunha, - segundo o site do Banco Central - de 375.951 bilhões de dólares em reservas internacionais. Destes, aproximadamente 240 bilhões estão aplicados em títulos do tesouro norte-americano, o que aponta para um risco, nada desprezível, de se tomar um gigantesco calote, caso o governo e o congresso não cheguem a um acordo sobre o orçamento e o novo teto da dívida pública dos EUA.
Esse dinheiro, hoje aplicado a menos de dois por cento ao ano, poderia dar melhor retorno, se uma décima parte dele fosse aplicada, paulatinamente, via BNDES e outros bancos públicos, na expansão de nossa economia, sem necessidade – já que essa é a “preocupação” das agências internacionais de risco - de novos aportes do tesouro ou do aumento da dívida bruta.
No lugar de ficar tirando, a cada momento, coelhos da cartola, para driblar as cascas de banana lançadas pelos seus adversários, o governo precisa de um projeto claro de governo, defensável e fácil de ser explicado e entendido pelos outros entes e poderes da República e a opinião pública nacional e internacional.
Ou o PT corrige seu rumo, ou corre o risco de tomar outro rumo a partir do ano que vem.
Postado por Mauro Santayana às 05:00 AS RESERVAS E O BNDES
(JB) - Depois de terem sido apanhadas de calças na mão pelas crises internacionais, as agências de qualificação voltam de novo sua nefasta atenção para o Brasil, desta vez para defender o enfraquecimento e o desmonte do sistema de financiamento público.
E o nosso país, que deveria tratá-las como aos cães que ladram, enquanto a caravana passa, parece que vai ceder à chantagem, e tolher a concorrência entre bancos públicos e privados, diminuindo a o papel dos primeiros na expansão do crédito pessoal e de capital de giro – providência que nos salvou, desde o início da crise, em 2008, até agora.
Como na fábula do lobo e do cordeiro – para a imprensa financeira e os arautos do capitalismo internacional - o país tem que estar indo sempre mal em alguma coisa.
Se não estamos negativos no crescimento, que será de 2.5% em 2013, mais de duas vezes maior que o do México - o aluno espionado, adulador e obediente do Consenso de Washington - talvez o problema seja com a inflação.
Mas como a inflação desceu para menos de 6% nos últimos 12 meses, e o tomate não chegou a vinte dólares o quilo, como esperavam os “analistas”, o vilão da vez é a dívida bruta, que, no conceito do FMI, está em 68%, e que o governo diz estar em 58% - se descontarmos os títulos que estão em posse do tesouro.
O FMI e as agências falam da dívida bruta, mas se esquecem da dívida líquida, que é de apenas 34%, subtraídos os 375 bilhões de dólares que o país tem em reservas, a maior parte deles em títulos dos EUA, o que nos torna o terceiro maior credor individual dos norte-americanos.
Para evitar que o Brasil fugisse da restrição ao crédito imposta pelos bancos privados no auge da crise de 2008, o governo expandiu em 7% a dívida bruta, e essa é a principal razão, para que ela tenha se transformado agora, na bola da vez, para as agências internacionais.
Essa é a principal causa de as agências internacionais terem rebaixado a perspectiva – vejam bem, por enquanto, apenas a perspectiva - da qualidade da dívida soberana do Brasil, de positiva para “estável” nas últimas semanas.
Bem, o Brasil continua com grau de investimento – e não está na situação dos EUA, com a maior dívida do mundo, a ponto de paralisar, por falta de dinheiro, todo o setor público, daqui a uma semana, se não conseguir licença para assinar novos “papagaios” e aumentar o orçamento federal.
No entanto, neste como em outros embates, principalmente na economia, o governo – pressionado pelo Congresso, pela mídia conservadora, a Europa e os EUA, que desejam impedir o surgimento de um novo concorrente no plano geopolítico – prepara-se, mais uma vez, para reagir mal, aos trancos e barrancos, adotando um comportamento errático e hesitante, ditado muito mais pela pauta dos adversários, do que por um projeto próprio e coerente de país.
É isso que ocorre, por exemplo, na área de telecomunicações, sob quase total domínio do capital estrangeiro desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Uma situação que nos leva a pagar, segundo a última pesquisa da União Geral de Telecomunicações, divulgada nesta semana, as mais altas tarifas de telefonia celular do mundo. Preços várias vezes superiores aos que cobram as operadoras estrangeiras, de seus concidadãos, em seus países de origem, pelos mesmos serviços. Sem quase nenhuma atitude do governo, a não ser a de providenciar financiamento farto e barato, e isenção de obrigações e impostos, para multinacionais que enviam bilhões de dólares para o exterior todos os anos - a não ser o recuo em uma frustrada tentativa de retorno da Telebras, como operadora plena, ao mercado, para a prestação de serviços diretos ao consumidor.
Com regras claras, voltadas para a montagem de consórcios com participação privada nacional, estatal e estrangeira, em bases iguais, também na infra-estrutura, o dinheiro injetado em nosso principal banco de fomento poderia ter gerado resultados muito melhores na economia desde a crise de 2008.
No lugar disso, o que vimos, nos últimos anos, foi o BNDES financiando, às vezes, 60%, até 80% do montante de projetos para empresas que, em vez de reinvesti-los aqui mesmo, enviam a maior parte de seus lucros para o exterior.
Isso ocorreu no setor de telecomunicações, mas também na indústria automobilística. Não se negociou qualquer participação direta do governo nas novas fábricas de automóveis construídas com quase 100% de dinheiro do BNDES e generosa isenção fiscal, para que ao menos parte dos ganhos auferidos com o boom de vendas, gerado pela diminuição do IPI, ficasse no país.
Não se negociou mudanças nas novas fábricas e em novos modelos, que contemplassem exigências de eficiência energética, diminuindo a necessidade de importação de combustível estrangeiro que aumentou com a expansão da frota. Aplicou-se dinheiro que poderia ter sido investido no subsídio à produção local de etanol, em projetos megalomaníacos, como os do Senhor Eike Batista, por exemplo.
O governo precisa perder o medo pânico de investir diretamente em atividades estruturais e produtivas que são estratégicas para o país. Quando não for possível estabelecer um equilíbrio entre capital privado nacional, capital estatal, capital estrangeiro, por eventual falta de interesse privado, que se busque associação direta com estatais de outros países, como a China, na base de 51% para o Brasil e 49% para o parceiro internacional.
O governo não deveria ter se endividado para colocar dinheiro na economia sem a contrapartida de aporte de recursos por parte de quem domina e se beneficia do negócio, principalmente, quando se trata de estrangeiros. Nessa parceria, que lembra a famosa joint-venture dos porcos com as galinhas, as multinacionais entram costumeiramente com os ovos, e o estado brasileiro, via BNDES, com o bacon.
Quem busca financiamento público precisa colocar em cima da mesa pelo menos um real, ou um dólar – vindo de seu próprio bolso ou de fonte de financiamento interna ou externa - para cada real, ou dólar, colocado pelo governo, senão nunca poderemos sair do baixíssimo patamar de investimento no qual nos encontramos.
Pois bem, agora, pressionado pela ameaça de rebaixamento da nota do país pelas agências internacionais, o governo pretende, para se livrar do problema, jogar a criança fora junto com a água da bacia.
No lugar de aprofundar e corrigir o papel do financiamento estatal, estabelecendo rumos, previsíveis, racionais, para os próximos anos, que levem à otimização da aplicação de recursos na economia, o governo cogita diminuir a participação dos bancos públicos no sistema financeiro e restringir o crédito para o consumo e o capital de giro, e os bancos privados declararam que não têm interesse em cobrir essa demanda.
E, mais, para assegurar os compromissos de financiamento do BNDES até o fim do ano, da ordem de 30 bilhões de reais, o governo fala em vender açodadamente sua participação em empresas – algumas delas estratégicas – em um momento em que essas ações - que foram responsáveis por metade do lucro do banco nos últimos anos – estão, por causa da desvalorização da bolsa, com seus preços muito abaixo de seu valor real.
Alternativas a esse recuo existem, assim como recursos para continuar com o financiamento público, sem vender os ativos da BNDESpar. Até ontem o Brasil dispunha, - segundo o site do Banco Central - de 375.951 bilhões de dólares em reservas internacionais. Destes, aproximadamente 240 bilhões estão aplicados em títulos do tesouro norte-americano, o que aponta para um risco, nada desprezível, de se tomar um gigantesco calote, caso o governo e o congresso não cheguem a um acordo sobre o orçamento e o novo teto da dívida pública dos EUA.
Esse dinheiro, hoje aplicado a menos de dois por cento ao ano, poderia dar melhor retorno, se uma décima parte dele fosse aplicada, paulatinamente, via BNDES e outros bancos públicos, na expansão de nossa economia, sem necessidade – já que essa é a “preocupação” das agências internacionais de risco - de novos aportes do tesouro ou do aumento da dívida bruta.
No lugar de ficar tirando, a cada momento, coelhos da cartola, para driblar as cascas de banana lançadas pelos seus adversários, o governo precisa de um projeto claro de governo, defensável e fácil de ser explicado e entendido pelos outros entes e poderes da República e a opinião pública nacional e internacional.
Ou o PT corrige seu rumo, ou corre o risco de tomar outro rumo a partir do ano que vem.
*Fonte:http://www.maurosantayana.com/2013/10/as-reservas-e-o-bndes.html
segunda-feira, 9 de setembro de 2013
Copom sobe Selic na surdina
06/9/2013 - Por Paulo Kliass, de Paris - Jornal Correio do Brasil
Em seu 6° encontro deste ano, 27-28/ago, o Comitê deliberou mais uma vez pelo aumento da taxa SELIC
Muito pouca gente parece ter se dado conta do acontecimento.
As páginas de economia dos jornalões e os minutos de televisão preferiram não comemorar muito o fato. Afinal, parte da população já começa a perceber os prejuízos que a grande maioria sofre a cada vez que o governo resolve pelo caminho da elevação da taxa oficial de juros.
Apesar disso, o Comitê de Política Monetária (COPOM), em sua 177ª reunião ordinária, decidiu arrochar ainda mais a política monetária praticamente na surdina, quase sem nenhum alarido. Fez tudo no escurinho do cinema, quase incógnito.
Em seu sexto encontro desse ano, realizado em 27 e 28 de agosto, o Comitê deliberou mais uma vez pelo aumento da taxa SELIC. Assim, a taxa referencial de juros saiu dos 8,5% e foi para 9% ao ano. Tratava-se da quarta elevação em reuniões seguidas, em uma trajetória de alta que começou em 17 de abril desse ano. Naquela época, a SELIC estava em 7,25% e desde então passou a sofrer a espiral um novo aumento a cada 45 dias, periodicidade de reuniões do colegiado.
Mas como aquela semana estava totalmente tomada por outros fatos da conjuntura política e econômica, pouca atenção foi dada à decisão. O governo parece completamente perdido no quesito “diretrizes de política econômica”.
Fica um pouco girando feito biruta de aeroporto, à mercê das mudanças repentinas dos ventos e sem uma linha de conduta racional e coerente a seguir.
As notícias do mundo real da economia não apresentavam nenhuma indicação de risco de descontrole das variáveis econômicas, que pudesse justificar a decisão pelo aumento dos juros oficiais. Essa alternativa não se colocava nem mesmo sob a ótica conservadora, resultado de uma suposta necessidade de promover um controle sobre um possível excesso de demanda.
Elevação da SELIC: o equívoco e o custo
Nesse caso, a estratégia de aumento da taxa oficial de juros obedeceu apenas e tão somente aos interesses da finança. Os únicos a lucrarem com essa política monetária extemporânea são os bancos e as demais instituições do sistema financeiro.
De um lado, se beneficiam pela maior remuneração que passam a receber pela aplicação de seus ativos em títulos da dívida pública. E de outro lado, ganham muito mais ainda pela elevação das taxas cobradas nas operações de crédito e empréstimo concedidas a indivíduos, famílias e empresas.
Em sumo, o que se vê é o governo estimulando e premiando a atividade parasitária do financismo em nossas terras, contra o empreendedorismo da economia real.
Ora, se a Presidenta Dilma estava insatisfeita com o quadro observado até então e reclamando que a economia não deslanchava, algum assessor tinha de lhe explicar que uma das razões para tanto era justamente o problema do elevado custo financeiro das atividades empresariais e o limite para maior nível de endividamento, atingido também pelo lado do consumo. Em tais condições, deve parecer óbvio – até para quem não estudou economia – que aumentar a taxa de juros tem o significado de um verdadeiro tiro no pé.
Ganham os bancos e os especuladores. Perdemos todos os demais.
Por outro lado, o aumento da taxa de juros também apresenta uma fatura pesada para as próprias finanças públicas.
A taxa SELIC é a que se utiliza, como piso mínimo, para calcular a remuneração dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Considerando-se que o total do estoque da dívida atual é de aproximadamente R$ 2 trilhões, conclui-se sem maiores dificuldades o tamanho da encrenca.
Esse aumento de 0,5% implicará um dispêndio adicional de R$ 10 bilhões no orçamento anual da União, apenas a título de novas despesas com juros. Ora, se a própria Presidenta elegeu o Pacto nº 1 como sendo o de austeridade fiscal, fica evidente que seus próprios auxiliares diretos já começam a descumprir suas recomendações.
Afinal, gastar recurso do Estado – supostamente escasso na atual conjuntura – com rubricas de dimensão financeira não pode ser considerado como bom sinal de rigor no controle da despesa pública.
Semana carregada: de Obama a Donadon
A conjuntura política e econômica estava bastante conturbada. A agenda estava tomada por uma série de eventos e processos de elevada sensibilidade. Terminaram por atrair mais a atenção do que essa reunião do COPOM. Já estava na pauta da política internacional a ameaça dos EUA em invadir a Síria, com a desculpa do suposto uso de armas químicas do governo de Assad contra as oposições. Ainda no plano das relações internacionais, veio à cena as “trapalhadas” dos responsáveis pela diplomacia brasileira na Bolívia, com a fuga espetacular do senador condenado pela justiça, com o auxílio e apoio do embaixador substituto.
A saia justa custou o posto do Ministro Patriota e colocou a nossa Presidenta em dificuldades frente ao Presidente Morales e aos demais parceiros. Por outro lado, vale lembrar que as denúncias de espionagem que a sociedade e o governo brasileiros estão sendo vítimas por parte dos norte-americanos tampouco haviam sido esclarecidas, com a participação direta do Presidente Obama.
Na política interna, o foco estava dividido entre dois pontos. De um lado, a negativa do STF em conceder os embargos dos condenados no caso do mensalão. De outro lado, a verdadeira vergonha nacional, patrocinada pelo plenário da Câmara dos Deputados, ao não proporcionar quórum para a cassação do deputado-presidiário Donadon.
Com uma coleção de itens tão candentes como esses, é até um pouco compreensível que “apenas mais uma reunião do COPOM” não estivesse tão à frente na lista de prioridades de cobertura e preocupação da grande imprensa.
Mas o ponto a se indagar é que até pouco tempo antes do encontro, a queixa generalizada era que a economia continuava patinando e que o Brasil não conseguia decolar para patamares mais interessantes de seu ritmo de atividade.
Mas, como costuma acontecer com certa frequência, as vozes ouvidas pelas editorias de economia dos meios de comunicação foram apenas aquelas vinculadas ao mundo do financismo. Criou-se, assim, mais uma vez o falso consenso em torno do modelito do monetarismo inescapável.
A lógica embutida no raciocínio favorável a mais essa elevação da SELIC voltava-se para os possíveis riscos derivados do movimento de desvalorização cambial. Mas isso não representava novidade alguma. Essa hipótese já estava posta na mesa há muito tempo.
Todos sabiam que o processo de valorização artificial de nossa moeda frente ao dólar norte-americano – e demais moedas estrangeiras consideradas “fortes” – estava com seus dias contados.
Além de ser extremamente perverso para nossa economia, o real valorizado combinava apenas com o interesse do capital especulativo internacional, que para cá se dirige em busca da rentabilidade estratosférica.
Mas o problema é que a equipe econômica há muito tempo se acomodou ao real sobrevalorizado. Os dividendos políticos fáceis derivados da farra dos eletrônicos chineses importados e da festa das famílias de classe média na ponte aérea para Miami devem ter falado mais alto. Valia manter a popularidade alta das pesquisas a qualquer custo.
Desvalorização cambial e a tensão no ar
No entanto, agora que a economia norte-americana começa a dar sinais de reaquecimento, a situação muda de figura. O FED (Banco Central dos EUA) cogita de um aumento na sua taxa básica de juros, depois de um longo período com taxas quase próximas a zero. Com isso, o diferencial de rentabilidade dos especuladores pelo mundo afora muda de patamar. Uma parte dos recursos sai do circuito terceiro-mundista e se volta para lá, em busca dessa alternativa de menor risco e menor remuneração.
Esse movimento de redução da enxurrada de dólares em nossa direção provoca uma tendência de desvalorização do real, no caminho de uma taxa de câmbio mais realista. Normal, é isso mesmo que se espera de uma política cambial menos fantasiosa.
O problema é que esse rearranjo provoca uma elevação de nossos preços internos, em razão da presença forte de produtos e componentes importados em nossa economia. E a inflação ameaçada, atiça os nervos dos monetaristas, que começam a clamar por elevação dos juros. O ciclo se fecha.
E o COPOM resolve atender aos pleitos das finanças, aumentando outra vez os juros.
Mas o fato é que o governo perdeu a oportunidade de efetuar esse choque de câmbio necessário em um ambiente mais tranquilo, como até há poucos meses atrás. Agora terá de fazê-lo com mais cuidado, pois a inflação já havia iniciado um fase de alta, arriscando chegar na banda superior da meta.
De qualquer forma, existem outros mecanismos de evitar o alastramento da alta de preços provocados pela desvalorização.
E não será a elevação da SELIC a corrigir esse fato. Estão aí outros instrumentos, como o aumento do depósito compulsório dos bancos, a substituição de produtos importados mais sensíveis e a ação mais incisiva do governo junto às empresas e corporações.
Afinal, o mais importante é não se deixar amedrontar pela chantagem e pelo pânico.
Quem não se lembra da “terrível” semana da inflação do tomate, quando tudo parecia perdido, a nos orientarmos pelos editoriais dos grandes meios de comunicação. Amedrontado, o governo também havia cedido às pressões à época e aumentou a SELIC por conta disso.
Mas a safra dos hortifrutigranjeiros obedece a uma dinâmica que nada tem a ver com as decisões do COPOM. Assim, logo depois o tomate voltou aos preços de antes, até mais baixos. O pequeno detalhe é que, apesar disso, a SELIC não baixou.
As informações oriundas da economia real tampouco são muito claras para se perceber uma tendência firme de retomada das atividades no patamar exigido pelo País.
Apesar das boas notícias relativas ao PIB do segundo trimestre (crescimento de 1,5% na comparação com o mesmo período do ano passado), as estatísticas da produção industrial ainda são titubeantes. Em julho ela voltou a recuar 2%, acumulando um crescimento de apenas 0,6% ao longo de 12 meses.
Muito pouco para as nossas necessidades! Frente a esse quadro, a elevação dos juros é um das poucas decisões que o governo deve evitar sem nenhuma vacilação.
(*) Paulo Kliass é Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, carreira do governo federal e é doutor em Economia pela Universidade de Paris 10.
Fonte:
http://correiodobrasil.com.br/noticias/opiniao/copom-sobe-selic-na-surdina/642493/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=b20130907
Marcadores:
COPOM,
Correio do Brasil,
inflação,
juros,
mídia,
Paulo Kliass,
rentismo,
Selic,
taxa de juros
segunda-feira, 19 de agosto de 2013
Quando o jornalismo promove assalto aos cofres públicos
Eles querem tirar uma lasca do Brasil
por Saul Leblon, na Carta Maior
O capital parasita – leia-se, rentistas, especuladores e a república dos acionistas sem pátria – acha que chegou a hora de tirar uma lasca do Brasil.
Um pedaço do pré-sal, talvez.
Ou um naco das reservas em dólar.
Quem sabe um escalpo extra da população para atingir ‘a meta cheia’ do superávit fiscal.
Os preparativos para o assalto começaram há algumas semanas; deixaram os rastros de sempre nas manchetes nada sutis do jornalismo ‘especializado’.
A interpretação que a mídia e consultorias oferecem para o salto do dólar nesta 6ª feira, quando a moeda norte-americana avançou 2% e beirou R$ 2,40, inclui-se nesse esforço de achacar a nação por asfixia.
O jornal Valor Econômico foi originalmente um veículo conservador com apego à exatidão útil aos mercados.
Rasgou a fantasia este ano; hoje é mais um clarim estridente dessa ordem unida de achacadores.
Para se credenciar, limou a redação da competência heterodoxa de que dispunha e despediu a seriedade.
Ajustou-se.
Agora é o porta-voz dos administradores de carteiras.
Uma gente sôfrega que se move por impulsos irrefletidos em relação ao próximo e ao distante; sejam eles a sorte da economia ou os destinos da sociedade.
É desse circuito algo reptiliano que saltou o bote desfechado esta semana contra o pré-sal.
Coube ao Valor atribuir ao governo aquilo que a ganância parasitária pleiteia: abdicar dos 30% cativos da Petrobrás no pré-sal.
Um balão de assalto.
A república dos acionistas gostaria de ‘realizar’ depressa o valor potencial das maiores reservas de petróleo descobertas no planeta nos últimos 30 anos.
O nome do atalho é petroleiras internacionais.
O método: remeter in bruto o óleo, sem refino.
E gerar caixa.
Somas elevadas.
A república dos acionistas ganharia duas vezes.
Se a Petrobrás deixa de gastar como investidor universal da exploração, com pelo menos 30% em cada poço, como manda a lei, sobra mais para distribuir dividendos aos detentores das carteiras.
Que ganhariam de novo se o petróleo fosse bombeado direto para fora do país, sem alimentar impulsos industrializantes, sem expandir polos tecnológicos, sem engatar cadeias de equipamentos com elevados índices de nacionalização e prazos mais largos.
Entre os favorecidos nessa elipse do interesse nacional, figura a família Marinho, dona do jornal Valor, juntamente com os Frias, e um dos maiores acionistas da Petrobras.
Transitamos, como se vê, no campo da injeção de interesses direto na veia do noticiário.
Nesta 6ª feira foi a vez do ataque especulativo contra o câmbio.
O chamado ‘over shoot’ do dólar – uma desvalorização abrupta e pronunciada– vem sendo urdido em ladainha, há várias semanas, pelo mesmo noticiário especializado .
A esperança, confessa, é que o ajuste cambial — que o país precisaria fazer para devolver competitividade a sua indústria e refrear o déficit externo — desembeste.
E ocupe o lugar do tomate no jogral do ‘descontrole dos preços’, lubrificando a defesa do choque redentor dos juros .
O conjunto atenderia ainda à determinante política do mutirão conservador, que consiste em decretar o necrológio do governo Dilma, com injeção de algum oxigênio às candidaturas anêmicas da oposição tucana.
Fatos.
As moedas emergentes – todas elas – perderam valor no mundo nesta 6ª feira.
Motivo: a expectativa de uma mudança de ciclo econômico mundial, com a recuperação dos EUA.
O BC norte-americano pode apertar um pouco menos o espirrador de liquidez por lá, se a recuperação, de fato, acelerar o passo de forma consistente (hipótese ainda controversa).
Se isso acontecer, os juros norte-americanos tendem escalar níveis capazes de gerar uma fuga de investidores do resto do mundo, Brasil inclusive. Os juros futuros dos títulos do Tesouro dos EUA flexionaram nessa direção na 6ª feira.
Mas não há fuga de investidores do Brasil, por enquanto.
Nem há razões para tal. Ao contrário.
A brasileira foi uma da raras economias ocidentais cujo consumo de massa se manteve em expansão durante a crise.
Ademais de ser dotada de um robusto pacote de investimentos pesados. E de um fiador de futuro composto de bilhões de barris de petróleo.
O que fez a ganancia infecciosa nesta 6ª feira foi aproveitar a onda externa e ‘antecipar’ o cenário de uma fuga, precificando-o nas cotações do dólar.
O que eles querem?
Querem que o Brasil atue para apagar o fogo da avidez, dando um pedaço das reservas de US$ 380 bi à fome descabida aos mercados especulativos.
É agora ou nunca.
A verdade é que o mote do descontrole econômico, alardeado como a contra-face ‘estrutural’ dos protestos de junho, não pegou.
Fanhosas apresentadoras de refogados na TV foram para o sacrifício, pendurando legumes no pescoço.
O ridículo lhes cai bem, mas não prosperou: em julho, houve deflação de alimentos.
O custo da cesta básica caiu em 18 capitais. A indústria cresceu.
O PIB se arrasta, mas estamos longe do alarmismo inscrito no noticiário.
A popularidade da Presidenta Dilma desenhou uma inflexão de alta em agosto.
Segundo o Datafolha, ela vence qualquer adversário no 2º turno.
O conservadorismo, ao contrário,mimado pela mídia, não tem nenhum candidato de fôlego.
Seu núcleo duro foi atropelado pelas revelações de corrupção sistêmica no metrô de São Paulo.
Se é para tirar uma lasca do país, há que ser agora, na turbulência que o ajuste de ciclo internacional provoca nos portfólios especulativos.
Depois pode ficar tarde.
Um jornalismo rudimentar no conteúdo, ressalvadas as exceções de praxe, mas prestativo na abordagem, reveste esse assalto com uma camada de verniz naval de legitimidade incontrastável.
A crise mundial açoitou impiedosamente a sabedoria excretada dessa endogamia entre o circuito do dinheiro especulativo e o noticiário conservador.
Para dizê-lo de forma educada, a pauta dos mercados autorregulados revelou-se uma fraude datada e vencida.
De um mundo que trincou e aderna, desde setembro de 2008.
Todavia, só se supera aquilo que se substitui.
E nada se colocou em seu lugar.
Ao que parece, o governo continua a acreditar que vencerá a luta pelo desenvolvimento brasileiro armado de ferramentas exclusivas do paiol economicista.
Deixa, assim, o campo livre para o mercado fazer política, na companhia desfrutável do jornalismo especializado.
Tirando uma lasca do Brasil, em nome dos interesses particularistas. Que a mídia equipara aos de toda a sociedade.
Publicado originalmente no site Carta Maior.
Fonte: Viomundo
http://www.cartamaior.com.br/templates/postMostrar.cfm?blog_id=6&post_id=1302
Leia também:http://saraiva13.blogspot.com.br/2013/08/campanha-o-petroleo-tem-que-ser-nosso.html?
spref=twhttp://www.brasildefato.com.br/node/17840#.UhDaWvsVWUE.twitter
http://blog-sem-juizo.blogspot.com.br/2013/08/midia-e-justica-democracia-interrompida.html
http://www.viomundo.com.br/politica/andre-singer-coalizao-rentista-foi-as-ruas-reagir-contra-dilma.html
Marcadores:
jornalismo,
jornalismo econômico,
juros,
mídia,
O Petróleo Tem Que Ser Nosso,
pré-sal,
Rentista,
Saul Leblon
domingo, 7 de julho de 2013
Aproveitar e mudar
Fato é que é necessário aproveitar a pressão das ruas para dirigir a política no interesse coletivo, diminuindo o poder fechado de "soluções" entre os poderes, sem nenhuma participação popular. No front político não será de se estranhar que se dissolva a precária base de sustentação do governo Dilma, que virou um saco de gatos ideológico e político.
Por Amir Khair - Carta Maior
As manifestações de rua estão sendo aproveitadas para várias finalidades. Para a direita, o que interessa é desgastar o PT e o governo Dilma. Vislumbram a possibilidade de tirar o PT do poder e procuram o candidato que possa satisfazer suas vontades, com chances eleitorais.
A esquerda tem a possibilidade de tencionar os governos no sentido de avançar as políticas públicas na área social. Teme, no entanto, que a onda de repúdio à política e políticos acabe por gerar falsas soluções que acabem por interromper os avanços conquistados de mais distribuição de renda, e coloquem no governo um novo Collor.
Fato é que é necessário aproveitar a pressão das ruas para dirigir a política no interesse coletivo, diminuindo o poder fechado de "soluções" entre os poderes, sem nenhuma participação popular.
No front político não será de se estranhar que se dissolva a precária base de sustentação do governo Dilma, que virou um saco de gatos ideológico e político.
Há que buscar suporte político ao atender as pressões legítimas de soluções que reduzam despesas da maioria da população e que consigam ampliar e aprimorar os serviços nas áreas sensíveis como transporte e saúde e jogar força na estratégica área da educação, especialmente via aporte de recursos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), ampliando o percentual de 10% que o governo federal aporta a esse fundo. Uma possibilidade para novos recursos é regulamentar o Imposto sobre Grandes Fortunas, que o Congresso senta em cima das propostas para não atingir o bolso dos deputados e senadores.
Mas, há que tomar cuidado. Muitas vezes argumenta-se que faltam recursos para atender as demandas da população. Sim, faltam. Mas há que cobrar duramente das administrações, que usem os recursos passados pela população no interesse coletivo e de forma eficaz, ou seja, fazendo mais e melhor com os mesmos recursos seja ao terceirizar, seja ao fazer diretamente. Pouco se sabe sobre os custos reais dessas duas vias.
O interesse da chamada elite é pelo Estado mínimo e privado máximo. A palavra de ordem deles é redução das despesas de custeio para aumentar o resultado primário para pagar os juros do rentismo, que domina o País.
Há, no entanto, que ter clareza política nesse embate ideológico e defender intransigentemente o Estado, mas na sua função de velar pelo interesse coletivo e não o do capital ao direcionar recursos públicos.
A mais clara realidade sobre esse papel do Estado está no fato do descaso de prefeitos, governadores, vereadores, deputados, Ministério Público, Tribunal de Contas e a mídia praticamente ausentes nas suas funções de proteção aos interesses, por exemplo, dos que pagam as contas do transporte coletivo via tarifa e/u via subsídio pago às empresas operadoras.
O que se viu em decorrência da pressão das ruas foi um vergonhoso jogo de cena onde alguns governantes baixaram as tarifas por parcos centavos, afirmando que só se o governo federal reduzisse tributos é que poderiam baixar mais, ou ainda afirmações de pseudo economias que iriam fazer fundindo órgãos, como fez o governador de São Paulo, com uma "economia" de R$ 130 milhões neste ano, algo como 0,07% do orçamento do Estado.
A falta de compromisso com a população, especialmente a de menor renda, que depende do serviço público na educação, saúde, assistência social e segurança, pode ser vista na quantidade, qualidade e baixa eficiência da prestação dos serviços, tornando-os mais caros do que deveriam. O caro aqui se refere ao custo para ter o serviço, seja esse custo feito diretamente, seja feito através de empresa privada contratada para isso.
Há ausência praticamente total de auditoria de custos em tudo que o setor público contrata e de transparência no que executa diretamente. Falta vontade política para verificar o valor que está sendo pago ao prestador de serviço ao executor da obra. Em geral tudo que é entregue ao setor privado para fazer em lugar do setor público pode estar sendo pago com valor acima do que deveria caso o governo se dispusesse a olhar com mais cuidado tudo que contrata e, muitas vezes não o faz por falta de quadros e/ou de competência para isso.
A população que paga a conta tem todo direito de saber o porque do valor cobrado e o governo através dos seus três níveis (federal, estadual e municipal), poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público) e agências "reguladoras" de FHC, o dever de não jogar contas indevidas sobre os usuários e contribuintes.
Deve-se questionar as tarifas do transporte coletivo, da mesma forma, o pagamento às empresas do lixo e varrição de vias (uma das maiores despesas das prefeituras), as contas das concessionárias (água e esgoto, energia elétrica, telefonia e gás) que são uma verdadeira caixa preta funcionando como potentes bombas de sucção do ganho das pessoas.
Assim que continue a pressão das ruas. Se Dilma quiser buscar respostas via Congresso vai-se frustrar, pois lá tem sido mais um banco de negócios para satisfazer os interesses de cargos e ganhos pessoais dos "representantes" do povo. Felizmente ainda há exceções.
O que vale é participar e lutar para avançar e fazer os governos ampliarem o atendimento com melhor qualidade à área social. Sem pressão nada acontecerá. É aproveitar a força do movimento para mudanças que estão emperradas
.http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=22308&editoria_id=4
Marcadores:
Amir Khair,
aumento dos juros,
direita,
esquerda,
Fernando Collor,
governo Dilma,
juros,
manifestações,
Partidos políticos,
protestos,
pt
sábado, 1 de junho de 2013
As escolhas de Dilma
Por Saul Leblon - Carta Maior
As notícias que chegam dos correspondentes de Carta Maior na Europa formam um denso exclamativo de alerta.
A austeridade estala o relho do desemprego nas costas de quase 27 milhões de pessoas no continente –mais de 19 milhões só na zona do euro.
Um círculo vicioso de arrocho social, demência fiscal e privilégio às finanças escava o fundo do abismo.
Aleija o Estado; esquarteja o tecido social.
A fome está de volta numa sociedade que imaginava tê-la erradicado com a exuberância da política agrícola do pós- guerra, associada à rede de proteção do Estado social.
Quem não se lembra das montanhas de manteiga e trigo?
Inútil é a opulência quando a repartição se faz pela supremacia dos mercados desregulados.
Que meio milhão de pessoas passem fome no coração financeiro da Europa, como informa o correspondente em Londres, Marcelo Justo, nesta pág, deveria ser suficiente para afastar as ilusões na ‘solução ortodoxa’ para a crise sistêmica do capitalismo desregulado.
Mas a história não segue uma lógica moral; tampouco é imune a retrocessos.
A calibragem fina entre a barbárie e a libertação humana não está prevista nos manuais de economia.
Esse apanágio pertence à democracia.
Vale dizer, ao movimento das gigantescas massas de forças acumuladas na caldeira social de cada época.
A esquerda europeia, ao longo dos últimos 30 anos, jogou água fria no vapor.
Sua rendição histórica representa hoje o chão firme em que prospera a restauração conservadora.
A regressividade econômica se faz acompanhar da contrarrevolução sempre que a esquerda troca a resistência pela adesão à lógica cega dos mercados.
Os paralelepípedos de Paris assistem, estarrecidos, às marchas extremistas contra os direitos das minorias --num ensaio de assalto aos das maiorias, patrocinado pela tibiez do governo Hollande.
A França vive o seu ‘Maio de 68 de direita’.
Quem avisa, nesta pág, é o experiente jornalista Eduardo Febbro, correspondente de Carta Maior que tem o olho treinado na cobertura de grandes levantes sociais do Oriente Médio à América Latina.
A exceção alemã, ademais de suspeita num continente devastado, assenta-se em mecânica perversa.
Frau Merkel gaba-se de ter acrescentado 1,4 milhão de vagas ao mercado de trabalho germânico no século 21.
O feito encobre uma aritmética ardilosa.
Desde 2000, a classe trabalhadora alemã perdeu 1,6 milhão de empregos.
Vagas de tempo integral, com direitos plenos.
Substituídas por 3 milhões de contratações em regime precário, de tempo parcial.
O salário mínimo (hora/trabalho) do semi-emprego alemão só não é pior que o dos EUA de Obama.
É no alicerce das ruínas trabalhistas que repousa o sucesso das exportações germânicas, cantadas em redondilhas pelo jogral conservador aqui e alhures.
Exportando arrocho, o colosso alemão consegue vender mais do que consome internamente.
A fórmula espalha desemprego e ‘bons exemplos’ ao resto do mundo.
O ‘modelo alemão’, ademais, traz no DNA a singularidade que o torna inimitável: se todos acionarem o moedor de carne de Frau Merkel, quem vai comprar o excesso de salsicha?
O fundo do poço, enevoado neste caso pelo lusco-fusco da retomada norte-americana contrastada pela desaceleração asiática, é o ponto mais perigoso da crise. De qualquer crise.
As fragilidades estão no seu nível máximo.
E sempre surge alguém para propor que a hora é de escavar o porão com mais arrocho e desmanche social.
Roosevelt ouviu os conselhos dos ‘austeros’, em 1937, quando a economia dos EUA começava a respirar. O rebote depressivo foi tão longe que dele o país só saiu com o keynesianismo de guerra.
O próprio FMI alerta : nas condições atuais, cada unidade adicional de austeridade produz duas vezes mais decrescimento, do que no início do ‘ajuste’.
A ortodoxia acha que nada disso vale para o Brasil.
O país ingressa nesse capítulo do colapso neoliberal equilibrado em trunfos e flancos significativos.
Sua engrenagem econômica se ressente da mortífera sobrevalorização cambial que inibe exportações e transfere demanda para o exterior; as contas externas padecem, ademais, com a erosão nas cotações das commodities; o parque industrial retraído e defasado tecnologicamente é acossado pela invasão dos importados.
A determinação central, porém, é a luta pelo poder.
A disputa eleitoral de 2014 comanda o relógio dos mercados.
Os ponteiros do capital buscam candidaturas ‘amigáveis’.
Não investir na ampliação da oferta, capaz de domar a inflação, faz parte da campanha.
‘Culpa das incertezas’, justifica a mídia obsequiosa.
A mesma que encoraja a retranca aos investidores:
“Não façam agora o que poderá ser feito depois, lubrificado por ‘reformas desregulatórias’, caso a Dilma intervencionista seja derrotada”.
O BC endossa o cantochão.
Se não há investimento para atender a demanda, o equilíbrio virá pelo arrocho.
Pau nos juros.
A negociação do futuro não pode ficar restrita ao monólogo entre o mercado e o diretório do BC.
O saldo é mundialmente conhecido. As ruas da Europa dão seu testemunho.
O falso ‘remédio’ agrava a doença e calcifica o recuo do investimento.
Tudo adornado pela guarnição sabida: angu de desemprego com caroço de atrofia fiscal.
Perigosamente ilusória é a hipótese de curar essa indigestão com saltos nas grandes obras públicas.
O retrospecto não endossa a expectativa.
O Brasil já tem uma parte daquilo que as nações buscam desesperadamente (leia o artigo do economista Amir Khair, nesta pág.)
O singular trunfo brasileiro é o binômio ‘pleno emprego e demanda popular de massa’, parcialmente ancorado no Real 'forte'
Foi ele que protegeu o país da crise até agora.
É preciso erguer linhas de passagem para um novo ciclo. Mas essa é uma tarefa política e não contábil.
Se não dilatar o espaço da política na condução da economia, o governo corre o risco de perder o que já tem, sem obter o que a ortodoxia lhe promete.
Ao contrário da Europa, o Brasil tem forças sociais organizadas; suas centrais sindicais e a inteligência progressista dispõem de propostas críveis e sensatas.
Não foram desmoralizadas pela rendição ao neoliberalismo.
O governo construiu sólidas políticas sociais, ademais de estruturas de Estado para ampliá-las.
O conjunto permite à Presidenta Dilma negociar rumos e metas do desenvolvimento com a sociedade; bem como preservar seu mercado de massa com o reforço nas políticas sociais.
Acreditar que a ação do BC será suficiente para reordenar a economia no rumo dos investimentos é terceirizar o país à lógica conservadora, até agora restrita à exortação midiática.
Política é economia concentrada.
O governo Dilma tem escolhas a fazer. E legitimidade para exercê-las.
É a hora.
Fonte - Carta Maior - Blog das Frases - Saul Leblon..http://www.cartamaior.com.br/templates/postMostrar.cfm?blog_id=6&post_id=1257
As notícias que chegam dos correspondentes de Carta Maior na Europa formam um denso exclamativo de alerta.
A austeridade estala o relho do desemprego nas costas de quase 27 milhões de pessoas no continente –mais de 19 milhões só na zona do euro.
Um círculo vicioso de arrocho social, demência fiscal e privilégio às finanças escava o fundo do abismo.
Aleija o Estado; esquarteja o tecido social.
A fome está de volta numa sociedade que imaginava tê-la erradicado com a exuberância da política agrícola do pós- guerra, associada à rede de proteção do Estado social.
Quem não se lembra das montanhas de manteiga e trigo?
Inútil é a opulência quando a repartição se faz pela supremacia dos mercados desregulados.
Que meio milhão de pessoas passem fome no coração financeiro da Europa, como informa o correspondente em Londres, Marcelo Justo, nesta pág, deveria ser suficiente para afastar as ilusões na ‘solução ortodoxa’ para a crise sistêmica do capitalismo desregulado.
Mas a história não segue uma lógica moral; tampouco é imune a retrocessos.
A calibragem fina entre a barbárie e a libertação humana não está prevista nos manuais de economia.
Esse apanágio pertence à democracia.
Vale dizer, ao movimento das gigantescas massas de forças acumuladas na caldeira social de cada época.
A esquerda europeia, ao longo dos últimos 30 anos, jogou água fria no vapor.
Sua rendição histórica representa hoje o chão firme em que prospera a restauração conservadora.
A regressividade econômica se faz acompanhar da contrarrevolução sempre que a esquerda troca a resistência pela adesão à lógica cega dos mercados.
Os paralelepípedos de Paris assistem, estarrecidos, às marchas extremistas contra os direitos das minorias --num ensaio de assalto aos das maiorias, patrocinado pela tibiez do governo Hollande.
A França vive o seu ‘Maio de 68 de direita’.
Quem avisa, nesta pág, é o experiente jornalista Eduardo Febbro, correspondente de Carta Maior que tem o olho treinado na cobertura de grandes levantes sociais do Oriente Médio à América Latina.
A exceção alemã, ademais de suspeita num continente devastado, assenta-se em mecânica perversa.
Frau Merkel gaba-se de ter acrescentado 1,4 milhão de vagas ao mercado de trabalho germânico no século 21.
O feito encobre uma aritmética ardilosa.
Desde 2000, a classe trabalhadora alemã perdeu 1,6 milhão de empregos.
Vagas de tempo integral, com direitos plenos.
Substituídas por 3 milhões de contratações em regime precário, de tempo parcial.
O salário mínimo (hora/trabalho) do semi-emprego alemão só não é pior que o dos EUA de Obama.
É no alicerce das ruínas trabalhistas que repousa o sucesso das exportações germânicas, cantadas em redondilhas pelo jogral conservador aqui e alhures.
Exportando arrocho, o colosso alemão consegue vender mais do que consome internamente.
A fórmula espalha desemprego e ‘bons exemplos’ ao resto do mundo.
O ‘modelo alemão’, ademais, traz no DNA a singularidade que o torna inimitável: se todos acionarem o moedor de carne de Frau Merkel, quem vai comprar o excesso de salsicha?
O fundo do poço, enevoado neste caso pelo lusco-fusco da retomada norte-americana contrastada pela desaceleração asiática, é o ponto mais perigoso da crise. De qualquer crise.
As fragilidades estão no seu nível máximo.
E sempre surge alguém para propor que a hora é de escavar o porão com mais arrocho e desmanche social.
Roosevelt ouviu os conselhos dos ‘austeros’, em 1937, quando a economia dos EUA começava a respirar. O rebote depressivo foi tão longe que dele o país só saiu com o keynesianismo de guerra.
O próprio FMI alerta : nas condições atuais, cada unidade adicional de austeridade produz duas vezes mais decrescimento, do que no início do ‘ajuste’.
A ortodoxia acha que nada disso vale para o Brasil.
O país ingressa nesse capítulo do colapso neoliberal equilibrado em trunfos e flancos significativos.
Sua engrenagem econômica se ressente da mortífera sobrevalorização cambial que inibe exportações e transfere demanda para o exterior; as contas externas padecem, ademais, com a erosão nas cotações das commodities; o parque industrial retraído e defasado tecnologicamente é acossado pela invasão dos importados.
A determinação central, porém, é a luta pelo poder.
A disputa eleitoral de 2014 comanda o relógio dos mercados.
Os ponteiros do capital buscam candidaturas ‘amigáveis’.
Não investir na ampliação da oferta, capaz de domar a inflação, faz parte da campanha.
‘Culpa das incertezas’, justifica a mídia obsequiosa.
A mesma que encoraja a retranca aos investidores:
“Não façam agora o que poderá ser feito depois, lubrificado por ‘reformas desregulatórias’, caso a Dilma intervencionista seja derrotada”.
O BC endossa o cantochão.
Se não há investimento para atender a demanda, o equilíbrio virá pelo arrocho.
Pau nos juros.
A negociação do futuro não pode ficar restrita ao monólogo entre o mercado e o diretório do BC.
O saldo é mundialmente conhecido. As ruas da Europa dão seu testemunho.
O falso ‘remédio’ agrava a doença e calcifica o recuo do investimento.
Tudo adornado pela guarnição sabida: angu de desemprego com caroço de atrofia fiscal.
Perigosamente ilusória é a hipótese de curar essa indigestão com saltos nas grandes obras públicas.
O retrospecto não endossa a expectativa.
O Brasil já tem uma parte daquilo que as nações buscam desesperadamente (leia o artigo do economista Amir Khair, nesta pág.)
O singular trunfo brasileiro é o binômio ‘pleno emprego e demanda popular de massa’, parcialmente ancorado no Real 'forte'
Foi ele que protegeu o país da crise até agora.
É preciso erguer linhas de passagem para um novo ciclo. Mas essa é uma tarefa política e não contábil.
Se não dilatar o espaço da política na condução da economia, o governo corre o risco de perder o que já tem, sem obter o que a ortodoxia lhe promete.
Ao contrário da Europa, o Brasil tem forças sociais organizadas; suas centrais sindicais e a inteligência progressista dispõem de propostas críveis e sensatas.
Não foram desmoralizadas pela rendição ao neoliberalismo.
O governo construiu sólidas políticas sociais, ademais de estruturas de Estado para ampliá-las.
O conjunto permite à Presidenta Dilma negociar rumos e metas do desenvolvimento com a sociedade; bem como preservar seu mercado de massa com o reforço nas políticas sociais.
Acreditar que a ação do BC será suficiente para reordenar a economia no rumo dos investimentos é terceirizar o país à lógica conservadora, até agora restrita à exortação midiática.
Política é economia concentrada.
O governo Dilma tem escolhas a fazer. E legitimidade para exercê-las.
É a hora.
Fonte - Carta Maior - Blog das Frases - Saul Leblon..http://www.cartamaior.com.br/templates/postMostrar.cfm?blog_id=6&post_id=1257
Marcadores:
aumento dos juros,
Banco Central,
crise econômica,
crise europeia,
desemprego,
fome,
governo Dilma,
juros,
Saul Leblon,
taxa de juros
Juro alto, crescimento baixo
Por Paulo Moreira Leite, em seu blog:
Em abril, quando o Banco Central debatia a necessidade de elevar a taxa de juros, escrevi aqui neste espaço.
Permita-me recordar alguns parágrafos:
“Derrotados em agosto de 2011, quando o Banco Central jogou os juros para baixo, nossos rentistas não se conformam. Possuem um exército de analistas e consultores em militância permanente para a reabertura do cassino financeiro.
Nos últimos meses, o grande empresariado obteve mais do que imaginava. O governo desonerou a folha de pagamentos. Baixou a conta de luz para consumidores e empresas. Abriu concessões generosas à iniciativa privada na área de infraestrutura. O saldo é um crescimento econômico, sob novas bases, em torno de 3% e 4%. Não é muito, mas pode ser um bom começo.
A questão central do processo é e sempre foi o juro baixo. O consumidor precisa dele para ir às compras. O empresário também conta com isso para novos investimentos. A certeza do dinheiro barato estimula o crescimento. A incerteza inspira a retirada, o medo.
Não é preciso um aumento grande. Basta um movimento na direção aguardada. O impacto negativo será imenso e prolongado.
Não se manipula com expectativas bilionárias impunemente, como num jogo de videogame.
O problema é que o imenso capital improdutivo brasileiro, aquele que é tão poderoso e que tem tantas faces invisíveis - muitas só são reconhecidas quando autoridades aceitam bons empregos ao deixar o governo -, não sabe viver de outra forma. Desfalcado de uma imensa receita assegurada no mercado financeiro, prepara a revanche.
Está conseguindo colocar a inflação como ponto essencial da agenda. Quando isso acontece, o cidadão já sabe. A ‘defesa da moeda’ é a senha cívica para menos empregos, menos crescimento, menos crédito e menos consumo.
Do ponto de vista político, é uma armadilha para Dilma, que dentro de um ano e meio enfrentará as urnas onde vai buscar a reeleição.
Do ponto de vista da sociedade brasileira, é um retrocesso a um modelo concentrador de renda.
Do ponto de vista econômico, é um erro trágico e bisonho, que tem um antecedente mortífero.
Em novembro de 2011, o BC brasileiro cedeu às pressões do rentismo e deu um salto para cima nos juros – jogando a economia, já em declínio em relação ao ano anterior, num mar de incertezas e desconfiança. Erro semelhante, no final de 2008, criou amarras desnecessárias no esforço para livrar o país da catástrofe que se iniciou em 2008. O país recuperou-se em 2010, mas pagou um sofrimento que poderia ter sido evitado.
Ao explicar o colapso europeu dos últimos anos, o Premio Nobel Paul Krugmann vai direto ao ponto. Lembra que o Velho Mundo paga a conta de um Banco Central que fechava os olhos para o crescimento e tinha uma visão obsessiva pela redução da inflação. O resultado foi transformar a Europa num grande cemitério de empregos e esperanças.
Não vamos nos enganar”.
Quando o Banco Central, enfim, decidiu elevar os juros, ainda escrevi que gostaria de estar errado em minhas previsões.
O crescimento magérrimo do primeiro trimestre de 2013 mostra que aquela primeira elevação não contribuiu – como era previsível – para uma queda significativa da inflação e pode ter atrapalhado um esforço para retomar o crescimento.
Se os próximos meses repetirem aquilo que ocorreu neste início do ano, teremos um crescimento anual de 2,4%.
Mas é possível que ocorra uma retração ainda maior, pois o BC acaba de elevar os juros em 0,5%. Ou seja: o dinheiro ficou mais caro, situação clássica para o setor privado mostrar-se ainda mais cauteloso para aplicações em investimentos produtivos – e ainda mais tentado para voltar à ciranda financeira.
Há outros complicadores em frente, também. O juro eleva o gasto do governo com seu financiamento. Tudo se torna mais caro e difícil de pagar.
O problema é menor quando o crescimento se mantém num patamar razoável. As receitas sobem e as contas fecham.
A coisa se complica quando o crescimento diminui. Podemos apostar que, em breve, as pressões contra o “déficit”, a “gastança” e todos esses lugares-comuns irão subir de tom.
Nos próximos dias as pesquisas de confiança do empresário e do consumidor devem apontar uma previsível queda no otimismo.
Aos poucos, os adversários do governo irão chegar aonde sempre quiseram. Poderão questionar a política econômica em sua maior prioridade, que é a distribuição de renda e o estímulo ao consumo das camadas mais pobres. Mas os adversários não descansam. Preparam o momento de dizer que não existe almoço grátis.
Você acha que estou errado?
Fonte: Blog do Miro
Marcadores:
aumento dos juros,
Banco Central,
crise capitalista,
crise econômica,
juros,
mídia,
Paulo Moreira Leite
sábado, 30 de março de 2013
Dilma enfrenta a Pátria rentista: mídia uiva
Por Saul Leblon*
Uma dia de estupefação e revolta no circuito formado pelos professores banqueiros, os consultores e a mídia que os vocaliza.
Na reunião dos Brics, na África do Sul, nesta 4ª feira, 27 de março , a presidenta Dilma afirmou que não elevará a ração dos juros reivindicada pelos batalhões rentistas, a pretexto de combater a inflação.
A reação instantânea das sirenes evidencia a cepa de origem a unir o conjunto à afinada ciranda de interesses que arrasta US$ 600 trilhões em derivativos pelo planeta.
Equivale a dez voltas seguidas no PIB da Terra.
Trinta e cinco vezes o movimento das bolsas mundiais.
Os anéis soturnos desse garrote reúnem – e exercem – um poder de extorsão planetária, capaz de paralisar governos e asfixiar nações.
Gente que prefere blindar automóveis a investir em infraestrutura. O Brasil tem a maior frota de carros blindados do mundo.
E uns R$ 500 bi estocados em fundos de curto prazo; fora o saldo em paraísos fiscais.
Carros blindados, dinheiro parado, paraísos fiscais e urgências de investimento formam a determinação mais geral da luta política em nosso tempo.
Em Chipre, como lembra o correspondente de Carta Maior em Londres, Marcelo Justo, o capital a juros compunha uma bocarra equivalente a 67 bilhões de euros, uns US$ 90 bilhões de dólares.
Três vezes o PIB. De um país com população menor que a de Campinas.
A fome pantagruélica desse organismo requeria rações diárias indisponíveis no ambiente retraído da crise mundial.
A gula que quebrou Chipre é a mesma que já havia quebrado a Espanha, Portugal, Irlanda, Islândia e alquebrado o mercado financeiro dos EUA.
A falência cipriota assusta o mundo do dinheiro não por suas dimensões.
Mas porque ressoa o uivo cavernoso de uma bancarrota, só anestesiada a um custo insustentável na UTI mundial das finanças desreguladas.
No Brasil o mesmo uivo assume o idioma eleitoral ao gosto do dinheiro graúdo: ‘dá para fazer mais’.
O governo Dilma acha que sim.
Mas com a expansão do investimento produtivo. Não com arrocho e choque de juros.
O país ampliado por 12 anos de políticas progressistas na esfera da renda e do combate à pobreza, não cabe mais na infraestrutura concebida para 30% de sua gente.
A desproporção terá que ser ajustada em algum momento.
Como o foi, com viés progressista e investimento pesado, durante o ciclo Vargas.
Sobretudo no segundo Getúlio, nos anos 50.
Mas também o foi em 64.
Em versão regressiva feita de arrocho e repressão contra as reformas de base de Jango, no golpe que completa 49 anos neste 31 de março.
O que se assiste hoje guarda uma diferença política importante em relação ao passado.
Nos episódios anteriores, o conflito de classe entre as concepções antagônicas de desenvolvimento seria camuflado pela vulnerabilidade externa da economia.
Um Brasil estrangulado pelo desencontro entre a anemia das exportações e o financiamento das importações colidia precocemente com o seu teto de crescimento.
O gargalo do investimento se realimentava no funil das contas externas. E vice versa.
Era um prato cheio para o monetarismo posar de arauto dos interesses da Nação. E golpeá-la, com as ferramentas recessivas destinadas a congelar o baile.
'Quem está fora não entra; quem está dentro não sai'.
Durante séculos, essa foi a regra do clube capitalista brasileiro.
Hoje, embora a pauta exportadora se ressinta de temerária concentração em commodities, não vem daí o principal obstáculo ao investimento.
O país dispõe de reservas recordes (US$ 370 bi). Tem crédito farto no mercado internacional. O relógio econômico intertemporal é favorável ao financiamento de um ciclo pesado de investimentos em infraestrutura.
Quem, afinal, veria risco em financiar a sétima economia do planeta, que, em menos de uma década, estará refinando a pleno vapor as maiores descobertas de petróleo do século 21?
O desencontro entre o Brasil que somos e aquele que podemos ser deslocou-se do gargalo externo, dos anos 50/60/80 para o conflito aberto entre os interesses da maioria da sociedade e os dos detentores do capital a juro.
Assim como em Chipre, na Espanha, nos EUA ou em Paris, o rentismo aqui prefere repousar num colchão de juros reais generosos, blindado por esférico monetarismo ortodoxo.
Migrar para a esfera do investimento produtivo, sobretudo de longo prazo, como requer o país agora, não integra o seu repertório de escolhas espontâneas.
Cabe ao Estado induzi-lo.
Dilma começou a fazê-lo cortando as taxas de juros.
A pátria rentista reclama:no primeiro trimestre deste ano, praticamente todas as aplicações financeiras perderam para a inflação. Ficou difícil multiplicar lucros e bônus sem botar a mão na massa da economia produtiva.
É essa prerrogativa estéril que os professores banqueiros do PSDB cobram pela boca e pelo teclado do jornalismo econômico, escandalizado com a assertiva defesa do desenvolvimento feita pela presidenta Dilma.
Presidenciáveis risonhos que se oferecem untados em molhos palatáveis às papilas monetaristas e plutocráticas vão aderir ao jogral.
“Esse receituário que quer matar o doente em vez de curar a doença está datado; é uma política superada", fuzilou Dilma.
Previsível, o dispositivo midiático tentou desqualificar o revés como se fora uma demonstração de ‘negligência com a inflação’.
Um governo que trouxe 50 milhões de pessoas para o mercado de consumo minimizaria a vigilância sobre a inflação?
Sacaria contra o futuro do seu maior patrimônio político?
A sofreguidão conservadora esmurra a própria coerência de sua análise sobre a força eleitoral do governo.
O governo Dilma optou por abortar as pressões inflacionárias imediatas com desonerações. E enfrentar o desequilíbrio estrutural com um robusto ciclo de investimentos.
Entende que o desafio da produtividade, indispensável à progressão dos ganhos reais de salários, deve ser vencido com infraestrutura e inovação. Não com arrocho, como se fez nos anos tucanos.
São lógicas dissociadas da receita rentista.
Aqui e alhures, a obsessão mórbida pela liquidez descolou-se da esfera patrimonial para a dos rendimentos financeiros. Não importa a que custo social ou político.
Sua característica fundamental é a preferência parasitária pelo acúmulo de direitos sobre a riqueza, sem o ônus do investimento físico na economia.
A maximização de ganhos se faz à base da velocidade e da mobilidade dos capitais, sendo incompatível com o empenho fixo em projetos de longa maturação em ferrovias, hidrelétricas ou portos.
Durante a década de 90, as mesmas vozes que hoje disparam contra o que classificam como ‘intervencionismo da Dilma’, colocaram o Estado brasileiro a serviço dessa engrenagem.
A ração dos juros oferecida no altar da rendição nacional chegou a 45%, em 1999.
Um jornalismo rudimentar no conteúdo, ressalvadas as exceções de praxe, mas prestativo na abordagem, impermeabilizou essa receita de Estado mínimo com uma camada de verniz naval de legitimidade incontrastável.
A supremacia dos acionistas e dos dividendos sobre o investimento –e a sociedade-- tornou-se a regra de ouro do noticiário econômico.
Ainda é.
A crise mundial instaurou a hora da verdade nessa endogamia entre o circuito do dinheiro e o da notícia.
Trata-se de uma crise dos próprios fundamentos daquilo que o conservadorismo entende como sendo ‘os interesses dos mercados’. Que a mídia equipara aos de toda a sociedade.
Dilma, de forma elegante, classificou essa ilação como uma fraude datada e vencida. De um mundo que trincou e aderna, desde setembro de 2008.
A pátria rentista uiva, range e ruge diante de tamanha indiscrição.
Na reunião dos Brics, na África do Sul, nesta 4ª feira, 27 de março , a presidenta Dilma afirmou que não elevará a ração dos juros reivindicada pelos batalhões rentistas, a pretexto de combater a inflação.
A reação instantânea das sirenes evidencia a cepa de origem a unir o conjunto à afinada ciranda de interesses que arrasta US$ 600 trilhões em derivativos pelo planeta.
Equivale a dez voltas seguidas no PIB da Terra.
Trinta e cinco vezes o movimento das bolsas mundiais.
Os anéis soturnos desse garrote reúnem – e exercem – um poder de extorsão planetária, capaz de paralisar governos e asfixiar nações.
Gente que prefere blindar automóveis a investir em infraestrutura. O Brasil tem a maior frota de carros blindados do mundo.
E uns R$ 500 bi estocados em fundos de curto prazo; fora o saldo em paraísos fiscais.
Carros blindados, dinheiro parado, paraísos fiscais e urgências de investimento formam a determinação mais geral da luta política em nosso tempo.
Em Chipre, como lembra o correspondente de Carta Maior em Londres, Marcelo Justo, o capital a juros compunha uma bocarra equivalente a 67 bilhões de euros, uns US$ 90 bilhões de dólares.
Três vezes o PIB. De um país com população menor que a de Campinas.
A fome pantagruélica desse organismo requeria rações diárias indisponíveis no ambiente retraído da crise mundial.
A gula que quebrou Chipre é a mesma que já havia quebrado a Espanha, Portugal, Irlanda, Islândia e alquebrado o mercado financeiro dos EUA.
A falência cipriota assusta o mundo do dinheiro não por suas dimensões.
Mas porque ressoa o uivo cavernoso de uma bancarrota, só anestesiada a um custo insustentável na UTI mundial das finanças desreguladas.
No Brasil o mesmo uivo assume o idioma eleitoral ao gosto do dinheiro graúdo: ‘dá para fazer mais’.
O governo Dilma acha que sim.
Mas com a expansão do investimento produtivo. Não com arrocho e choque de juros.
O país ampliado por 12 anos de políticas progressistas na esfera da renda e do combate à pobreza, não cabe mais na infraestrutura concebida para 30% de sua gente.
A desproporção terá que ser ajustada em algum momento.
Como o foi, com viés progressista e investimento pesado, durante o ciclo Vargas.
Sobretudo no segundo Getúlio, nos anos 50.
Mas também o foi em 64.
Em versão regressiva feita de arrocho e repressão contra as reformas de base de Jango, no golpe que completa 49 anos neste 31 de março.
O que se assiste hoje guarda uma diferença política importante em relação ao passado.
Nos episódios anteriores, o conflito de classe entre as concepções antagônicas de desenvolvimento seria camuflado pela vulnerabilidade externa da economia.
Um Brasil estrangulado pelo desencontro entre a anemia das exportações e o financiamento das importações colidia precocemente com o seu teto de crescimento.
O gargalo do investimento se realimentava no funil das contas externas. E vice versa.
Era um prato cheio para o monetarismo posar de arauto dos interesses da Nação. E golpeá-la, com as ferramentas recessivas destinadas a congelar o baile.
'Quem está fora não entra; quem está dentro não sai'.
Durante séculos, essa foi a regra do clube capitalista brasileiro.
Hoje, embora a pauta exportadora se ressinta de temerária concentração em commodities, não vem daí o principal obstáculo ao investimento.
O país dispõe de reservas recordes (US$ 370 bi). Tem crédito farto no mercado internacional. O relógio econômico intertemporal é favorável ao financiamento de um ciclo pesado de investimentos em infraestrutura.
Quem, afinal, veria risco em financiar a sétima economia do planeta, que, em menos de uma década, estará refinando a pleno vapor as maiores descobertas de petróleo do século 21?
O desencontro entre o Brasil que somos e aquele que podemos ser deslocou-se do gargalo externo, dos anos 50/60/80 para o conflito aberto entre os interesses da maioria da sociedade e os dos detentores do capital a juro.
Assim como em Chipre, na Espanha, nos EUA ou em Paris, o rentismo aqui prefere repousar num colchão de juros reais generosos, blindado por esférico monetarismo ortodoxo.
Migrar para a esfera do investimento produtivo, sobretudo de longo prazo, como requer o país agora, não integra o seu repertório de escolhas espontâneas.
Cabe ao Estado induzi-lo.
Dilma começou a fazê-lo cortando as taxas de juros.
A pátria rentista reclama:no primeiro trimestre deste ano, praticamente todas as aplicações financeiras perderam para a inflação. Ficou difícil multiplicar lucros e bônus sem botar a mão na massa da economia produtiva.
É essa prerrogativa estéril que os professores banqueiros do PSDB cobram pela boca e pelo teclado do jornalismo econômico, escandalizado com a assertiva defesa do desenvolvimento feita pela presidenta Dilma.
Presidenciáveis risonhos que se oferecem untados em molhos palatáveis às papilas monetaristas e plutocráticas vão aderir ao jogral.
“Esse receituário que quer matar o doente em vez de curar a doença está datado; é uma política superada", fuzilou Dilma.
Previsível, o dispositivo midiático tentou desqualificar o revés como se fora uma demonstração de ‘negligência com a inflação’.
Um governo que trouxe 50 milhões de pessoas para o mercado de consumo minimizaria a vigilância sobre a inflação?
Sacaria contra o futuro do seu maior patrimônio político?
A sofreguidão conservadora esmurra a própria coerência de sua análise sobre a força eleitoral do governo.
O governo Dilma optou por abortar as pressões inflacionárias imediatas com desonerações. E enfrentar o desequilíbrio estrutural com um robusto ciclo de investimentos.
Entende que o desafio da produtividade, indispensável à progressão dos ganhos reais de salários, deve ser vencido com infraestrutura e inovação. Não com arrocho, como se fez nos anos tucanos.
São lógicas dissociadas da receita rentista.
Aqui e alhures, a obsessão mórbida pela liquidez descolou-se da esfera patrimonial para a dos rendimentos financeiros. Não importa a que custo social ou político.
Sua característica fundamental é a preferência parasitária pelo acúmulo de direitos sobre a riqueza, sem o ônus do investimento físico na economia.
A maximização de ganhos se faz à base da velocidade e da mobilidade dos capitais, sendo incompatível com o empenho fixo em projetos de longa maturação em ferrovias, hidrelétricas ou portos.
Durante a década de 90, as mesmas vozes que hoje disparam contra o que classificam como ‘intervencionismo da Dilma’, colocaram o Estado brasileiro a serviço dessa engrenagem.
A ração dos juros oferecida no altar da rendição nacional chegou a 45%, em 1999.
Um jornalismo rudimentar no conteúdo, ressalvadas as exceções de praxe, mas prestativo na abordagem, impermeabilizou essa receita de Estado mínimo com uma camada de verniz naval de legitimidade incontrastável.
A supremacia dos acionistas e dos dividendos sobre o investimento –e a sociedade-- tornou-se a regra de ouro do noticiário econômico.
Ainda é.
A crise mundial instaurou a hora da verdade nessa endogamia entre o circuito do dinheiro e o da notícia.
Trata-se de uma crise dos próprios fundamentos daquilo que o conservadorismo entende como sendo ‘os interesses dos mercados’. Que a mídia equipara aos de toda a sociedade.
Dilma, de forma elegante, classificou essa ilação como uma fraude datada e vencida. De um mundo que trincou e aderna, desde setembro de 2008.
A pátria rentista uiva, range e ruge diante de tamanha indiscrição.
Fonte: Carta Maior- Blog das Frases por Saul Leblon*
Marcadores:
bancos,
BRICS,
governo Dilma,
inflação,
juros,
mídia,
quinta Cúpula dos BRICS,
taxa de juros
terça-feira, 12 de fevereiro de 2013
O fim da era rentista
01/02/2013 - O forte apache das tesourarias
- Saul Leblon - Carta Maior
A tesouraria é o forte apache do capitalismo desregulado. E o centro logístico da oposição conservadora no Brasil.
Tesouraria é o espaço físico. O departamento que cuida de maximizar os ganhos do capital a juro. Mas também é a palavra símbolo de uma lógica que disputa a hegemonia da política econômica.
Na ciranda da tesouraria embalam-se os interesses das grandes corporações – bancos ou grupos empresariais, locais e globais.
Ademais da insaciável legião dos acionistas, cuja pátria são os dividendos.
O conjunto movimenta riquezas apreciáveis.
Fundos de aplicações financeiras registraram um giro de R$ 2,4 trilhões no Brasil em 2012.
Não é um país à parte, embora se avoque mordomias, soberania e imunidades equivalentes às de um poder paralelo.
Pelotões de estrategistas, exércitos de consultores, inteligência acadêmica, bancadas legislativas, mídia e aliados internacionais mantêm-se e são mantidos a seu serviço.
Em prontidão permanente.
Diária.
 Para assegurar à riqueza financeira ganhos de rentabilidade inexcedíveis em qualquer outro setor econômico. Aqui e alhures.
Para assegurar à riqueza financeira ganhos de rentabilidade inexcedíveis em qualquer outro setor econômico. Aqui e alhures.O governo Dilma vem tornando difícil a vida das tesourarias no Brasil.
O rebate é forte.
O inconformismo escorre do noticiário econômico para os espaços onde os cifrões são traduzidos em 'projeto de país'. E daí estampados em colunas, editoriais, discursos, candidaturas amigáveis aos mercados.
Com propriedade o ministro Paulo Bernardo carimbou na rebelião das tesourarias um adesivo certeiro: "o partido do juro alto".
Aécio Neves com seu aparato de "professores-banqueiros" colou-o na testa.
A tesouraria prepara-se para 2014, mas ainda não em campo aberto.
Droners controlados à distância cuidam do bombardeio.
A meta é implodir a costura de uma política econômica que busca promover a eutanásia do rentista em duas frentes.
Seccionando linhas de alimentação do capital fictício com juros baixos e IOF alto, de um lado.
De outro, abrindo frentes de infraestrutura e mantendo o consumo de massa aquecido, na indução de um ciclo de investimento com maior igualdade social.
Busca-se um país que o Brasil nunca foi de verdade.
O governo cutuca placas tectônicas.
Com um juro básico em 7,25%, uma inflação em torno de 5,5%, mais impostos, obter ganho real nas aplicações financeiras deixou de ser mamão com açúcar.

O que está em jogo não é algo trivial.
Trata-se de mudar as condições de financiamento da economia.
E os objetivos do desenvolvimento.
Aconteceu antes, em 32 e 53 – quase como uma revolução burguesa à revelia das elites; foi feito sob o patrocínio do capital estrangeiro em 55; reprimido em 64; ordenado ditatorialmente contra o povo nos anos 70 e terceirizado aos livres mercados nos anos 90.
A seta do tempo vive um novo estirão.
 Luta-se para consolidar uma nova hegemonia ancorada nas energias, demandas e protagonistas que iniciaram a longa viagem à procura de um Brasil inédito, a partir das greves metalúrgicas do ABC paulista, nos anos 70/80.
Luta-se para consolidar uma nova hegemonia ancorada nas energias, demandas e protagonistas que iniciaram a longa viagem à procura de um Brasil inédito, a partir das greves metalúrgicas do ABC paulista, nos anos 70/80. Um passaporte da travessia é regenerar a base industrial brasileira. E tampouco aqui é contabilidade.
Trata-se de um requisito para gerar empregos e salários de qualidade; ademais de receita fiscal compatível com investimentos sociais, ambientais e logísticos que uma cidadania plena reclama.
Estabilidade ancorada em juro baixo e câmbio desvalorizado (para impedir importações devastadoras da produção local) é uma receita mortal para a riqueza financeira.
Seu habitat é o jogo intertemporal incessante em que presente e futuro se fundem na busca do rendimento alto e constante.
À falta de um horizonte volátil, semeia-se um ambiente político de beligerante 'desconfiança'.
Do forte apache partem mísseis com alvos selecionados.
A saber:
 I) "a ameaça inflacionária voltou: com juros baixos, salários, emprego e crédito em alta, em contraposição à oferta rígida de bens – um reflexo do baixo investimento –, a disparada dos preços é inevitável".
I) "a ameaça inflacionária voltou: com juros baixos, salários, emprego e crédito em alta, em contraposição à oferta rígida de bens – um reflexo do baixo investimento –, a disparada dos preços é inevitável". É uma meia verdade. A inflação encontra-se estável, com os preços no atacado em queda. E o investimento é uma batalha em curso. A rigidez por enquanto é mais um alarmismo que o jogral rentista quer transformar em profecia autorrealizável.
 II) "o governo fracassou em expandir o investimento em infraestrutura".
II) "o governo fracassou em expandir o investimento em infraestrutura". Também uma verdade parcial, descontextualizada. Esquece-se de que o Estado foi desmontado nos anos 90 e sistematicamente acuado para não se reerguer –coisa que vem sendo feita com acanhamento. Ainda assim, em 2012 o investimento público cresceu 13%; o PAC acionou R$ 40 bi em obras.
 III) "a política econômica intervencionista gera incertezas e trava a retomada do crescimento".
III) "a política econômica intervencionista gera incertezas e trava a retomada do crescimento". Capcioso. Até o FMI admite que a santíssima trindade ortodoxa feita de meta de inflação pautada pelo mercado financeiro, superávit fiscal rígido e câmbio livre pode e deve ser adequada às necessidades contracíclicas do desenvolvimento.
Mas a fuzilaria não vai parar.
Quem perdeu a doce vida de dividendos médios de 19% ao ano (fruto predominante da especulação em bolsa e não da produtividade), e viciou na roleta generosa, de juros três vezes acima da inflação, não vai largar o osso pacificamente.
É o forte apache das tesourarias.
Sob risco de se mistificar o protagonismo da mídia, seu nome não pode mais ser omitido quando se denuncia a narrativa do golpismo.
Fonte:
http://www.cartamaior.com.br/templates/postMostrar.cfm?blog_id=6&post_id=1184
Nota:
A inserção de algumas imagens adicionais, capturadas do Google Images, são de nossa responsabilidade, elas inexistem no texto original.
Marcadores:
Carta Maior,
governo Dilma,
juros,
mídia,
Rentista,
Saul Leblon
sábado, 5 de maio de 2012
Quem tem medo de Dilma?
04/05/2012 - extraído do Portal Brasil 247
por Hélio Doyle
Os banqueiros financiaram campanhas, mas não foram eleitos para governar o país
De um lado: os trabalhadores, os profissionais liberais, a classe média em geral, os empresários da indústria, do comércio e da agropecuária. De outro: os banqueiros.
A presidente Dilma Rousseff está, pois, do lado certo ao pregar e trabalhar pela queda dos juros e dos spreads bancários. Certa sob o ponto de vista da direção da economia do país e certa porque está ao lado da p opulação que trabalha e produz, contra o setor que pode até trabalhar, mas nada produz e é o que mais lucra. “Agora é tudo agiotagem”, disse o ex-banqueiro José Eduardo Andrade Vieira (do extinto Bamerindus) ao Valor Econômico. E, ao combater os juros abusivos, Dilma ainda cria condições para aumentar ainda mais sua já alta popularidade.
opulação que trabalha e produz, contra o setor que pode até trabalhar, mas nada produz e é o que mais lucra. “Agora é tudo agiotagem”, disse o ex-banqueiro José Eduardo Andrade Vieira (do extinto Bamerindus) ao Valor Econômico. E, ao combater os juros abusivos, Dilma ainda cria condições para aumentar ainda mais sua já alta popularidade.
 opulação que trabalha e produz, contra o setor que pode até trabalhar, mas nada produz e é o que mais lucra. “Agora é tudo agiotagem”, disse o ex-banqueiro José Eduardo Andrade Vieira (do extinto Bamerindus) ao Valor Econômico. E, ao combater os juros abusivos, Dilma ainda cria condições para aumentar ainda mais sua já alta popularidade.
opulação que trabalha e produz, contra o setor que pode até trabalhar, mas nada produz e é o que mais lucra. “Agora é tudo agiotagem”, disse o ex-banqueiro José Eduardo Andrade Vieira (do extinto Bamerindus) ao Valor Econômico. E, ao combater os juros abusivos, Dilma ainda cria condições para aumentar ainda mais sua já alta popularidade.
Só quem ganha com os juros altos, com as altíssimas tarifas bancárias e com os elevados spreads são os banqueiros e os acionistas dos bancos. Seus lucros são estratosféricos. Seu negócio é guardar, comprar e vender dinheiro, em última análise. Quem perde com essa “lógica perversa”, nas palavras de Dilma, é o país e o setor produtivo, que inclui capital e trabalho. Se existem hoje as condições objetivas para que esses juros sejam reduzidos e para que o custo dos empréstimos sejam menores, é natural que a presidente da República defenda isso e o governo trabalhe nesse sentido.
As reações contrárias não vêm, porém, apenas dos banqueiros e seus porta-vozes, e conomistas, jornalistas e relações-públicas muito bem remunerados.
conomistas, jornalistas e relações-públicas muito bem remunerados.
 conomistas, jornalistas e relações-públicas muito bem remunerados.
conomistas, jornalistas e relações-públicas muito bem remunerados.
Há reações também, algumas meio envergonhadas, de segmentos que nada perdem e muito ganham com a redução dos juros.
Mas não é difícil entendê-las: são políticas ou ideológicas.
O fortalecimento do governo de Dilma e o sucesso de sua política econômica não interessam, naturalmente, aos que lhe fazem oposição.
 Quanto mais popular a presidente e seu governo, menores as chances de vitórias eleitorais dos oposicionistas à direita e maior a perspectiva de que o PT continue no Palácio do Planalto. Nesse aspecto, inclusive, os tucanos, presumivelmente social-democratas, discrepam da social-democracia europeia, que hoje se opõe com nitidez ao domínio do setor financeiro sobre o Estado.
Quanto mais popular a presidente e seu governo, menores as chances de vitórias eleitorais dos oposicionistas à direita e maior a perspectiva de que o PT continue no Palácio do Planalto. Nesse aspecto, inclusive, os tucanos, presumivelmente social-democratas, discrepam da social-democracia europeia, que hoje se opõe com nitidez ao domínio do setor financeiro sobre o Estado.Há também, além da política, a questão ideológica.
Embora existam historicamente contradições entre o capital industrial, o capital comercial e o capital do agronegócio, por um lado, e o capital financeiro e especulativo, por outro, ideologicamente todos esses segmentos estão do mesmo lado.
E esse lado teme governos que interferem demais, segundo seu ponto de vista, na economia e em seus negócios. O Estado, para eles, deve s
 er mínimo.
er mínimo.
Daí as reações contraditórias. Apoiam as medidas para reduzir os juros, pois lhes interessam, mas não querem dar razão demais ao governo. Por isso falam em populismo, em demagogia, reclamam que Dilma está se aproveitando de seu alto índice de aprovação popular para “pressionar” setores da economia que não se enquadram nas orientações do governo. Investidores têm aversão a interferências do governo, advertem porta-voz dos bancos.
Alguns empresários, especialmente grandes empresários, aferram-se ainda à ideia de que o mercado tudo pode e faz o que quer, e governos só atrapalham – a não ser quando assinam contratos com eles.
O setor financeiro, sempre todo poderoso, considera-se acima do Estado e do poder político. Tem sido assim, e em um país de economia capitalista é natural que o capital predomine inclusive sobre o poder político. Mas isso está mudando, com a crise mundial. O liberalismo exacerbado e o domínio absoluto do mercado já fracassaram nos seus países-ícones, na América e na Europa.
Nenhum governo pode impedir o funcionamento do mercado, mas cabe ao poder legitimamente constituído definir as diretrizes econômicas de um país e estabelecer as políticas para cumpri-las, e não aos banqueiros ou qualquer outro segmento empresarial.
ao poder legitimamente constituído definir as diretrizes econômicas de um país e estabelecer as políticas para cumpri-las, e não aos banqueiros ou qualquer outro segmento empresarial.
 ao poder legitimamente constituído definir as diretrizes econômicas de um país e estabelecer as políticas para cumpri-las, e não aos banqueiros ou qualquer outro segmento empresarial.
ao poder legitimamente constituído definir as diretrizes econômicas de um país e estabelecer as políticas para cumpri-las, e não aos banqueiros ou qualquer outro segmento empresarial.
No Brasil, o poder legitimamente constituído é exercido, em última instância, pela presidente Dilma, e não pelos banqueiros multimilionários.
Mesmo que eles tenham financiado boa parte das campanhas eleitorais.
Tweet
Marcadores:
banqueiros,
cadernetas de poupança,
Dilma Rousseff,
governo,
juros,
política econômica
Assinar:
Comentários (Atom)
.jpg)